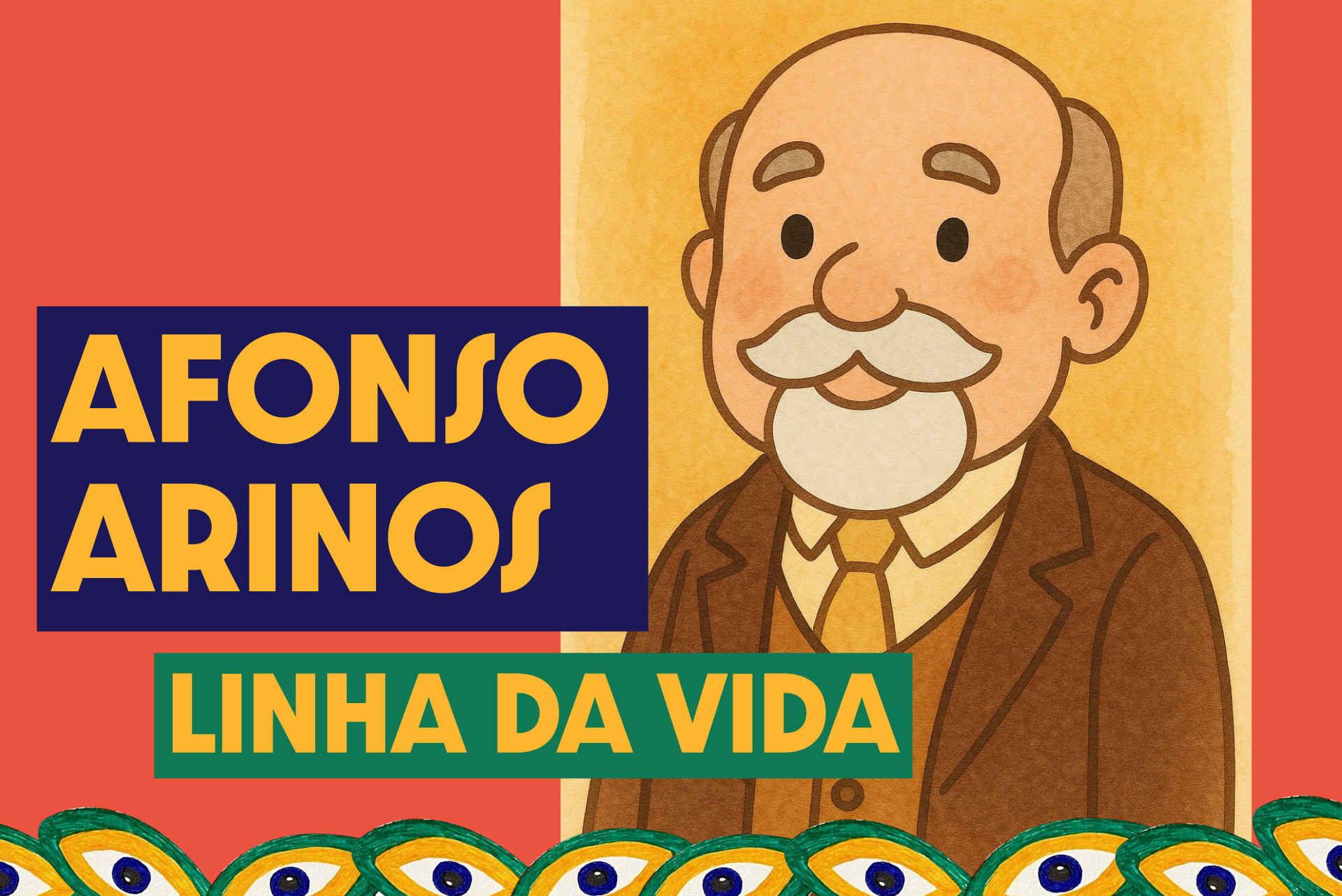
Para homenagear e destacar o legado do escritor paracatuense Afonso Arinos, o 3.º Festival Literário Internacional de Paracatu (Fliparacatu) inaugura a exposição educativa “Afonso Arinos – Linha da Vida”, em pesquisa de Helen Ulhoa e redação de Nágela Caldas.
A mostra ocupa a praça Praça Ademar da Silva Neiva, localizada no Centro de Paracatu, durante os dias em que o Festival acontece: de 27 a 31 de agosto, quarta-feira a domingo. Ao término, a Mostra irá circular em escolas da Cidade.
Como curiosidade, leiam aqui o discurso de posse de Afonso Arinos e a reposta de Olavo Bilac, em 1903. Começa no fim do texto abaixo.
“Afonso Arinos – Linha da Vida”
A mostra “Afonso Arinos – Linha da Vida” é formada por 12 totens que apresentam a história do escritor em uma linha do tempo. Cada um deles é formado por imagens e textos que elencam pontos marcantes da trajetória de Arinos, que foi também um reconhecido orador e apaixonado pela cultura sertaneja. Por exemplo, a exposição destaca o momento em que ele foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras, em 1901. Além disso, a Mostra apresenta curiosidades sobre a vida de Afonso Arinos, como quando, aos 13 anos de idade, ele foi interrogado em latim pelo Imperador Dom Pedro II.
Nascido na cidade de Paracatu, em 1868, Afonso Arinos foi uma figura ativa no cenário cultural brasileiro. O paracatuense começou a se dedicar à literatura, na juventude, quando era estudante de Direito em São Paulo. Sua obra mais conhecida é Pelo sertão – contos (1898). Ele é autor também do romance Os jagunços (1898) e Notas do dia (1900), além dos livros póstumos, O contratador de diamantes (1917), A unidade da Pátria (1917), Lendas e tradições brasileiras (1917), O mestre de campo (1918) e Histórias e paisagens (1921).
3.º Fliparacatu
Com uma programação diversa, para todos os públicos, o 3.º Fliparacatu tem debates literários, lançamentos de livros, contação de histórias para as crianças, prêmio de redação, apresentações musicais, entre outros. O Festival homenageia os escritores Valter Hugo Mãe e Ana Maria Gonçalves e tem a curadoria de Bianca Santana, Jeferson Tenório e Sérgio Abranches.
O 3.º Fliparacatu é patrocinado pela Kinross, via Lei Rouanet do Ministério da Cultura, e tem apoio da Caixa, da Prefeitura de Paracatu, da Academia de Letras do Noroeste de Minas e parceria de mídia do Amado Mundo.
A seguir, confira os textos que compõem os totens da exposição “Afonso Arinos – Linha da Vida”:
- O PARACATUENSE QUE REVOLUCIONOU A LITERATURA BRASILEIRA
Filho de Virgílio de Melo Franco e de D. Ana Leopoldina de Melo Franco, nasceu no sertão mineiro, na cidade de Paracatu, em 1868.
Os Melo Franco haviam se fixado em Paracatu, desde meados do século XVIII, quando receberam a carta de sesmaria firmada por Gomes Freire, que doava a João de Melo Franco terras às margens dos rios Preto e São Marcos, das quais ainda restam algumas partes em mãos da família
De acordo com seu sobrinho Afonso Arinos Sobrinho, o nome indígena Arinos não consta da sua certidão de batismo e lhe foi atribuído mais tarde pelo pai, que distribuiu apelidos indianistas a todos os filhos. Arinos era nome de uma tribo indígena de Mato Grosso. Afonso conservou o seu apelido como nome literário e assim ficou conhecido, mais do que pelo nome de batismo.
Nas constantes mudanças de cidade da família, realizadas com o auxílio de tropeiros, ele gostava, desde menino, de ficar ouvindo as histórias dos sertanejos, contadas nos acampamentos em torno das trempes, onde se preparava e se servia o jantar, e as cantorias comuns durante o descanso. Enquanto isso, os pais se acomodavam nas casas das fazendas do caminho, utilizadas como hospedarias.
- DE CULTURA REFINADA, ARINOS SE DESTACOU NAS LETRAS
Devido às diversas transferências de trabalho do pai, que foi juiz e político, Afonso Arinos estudou em escolas de diferentes estados, o que possibilitou que conhecesse ainda mais o Brasil. Estudou em escolas de Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.
Sua experiência em São João d’El Rey no Colégio Cônego Machado foi marcante, pois, aos 13 anos, foi interrogado em Latim pelo Imperador Dom Pedro II, respondendo a todas as perguntas (Proença, 1998, p. 7).
Fez seu curso de Direito em São Paulo e casou-se com Antonieta Prado, com quem teve duas filhas. Arinos se interessava por História e Literatura e possuía uma vasta cultura. Era apaixonado pela cultura sertaneja e um nacionalista convicto.
Iniciou sua vida profissional em Ouro Preto, então capital da Província de Minas Gerais, onde foi professor de História do Brasil, aprovado por meio de concurso, no qual obteve o 1.º lugar.
Foi um dos fundadores da Faculdade de Direito de Minas Gerais, onde lecionou Direito Criminal. Afonso Arinos tornou-se exímio escritor e reconhecido orador.
- AFONSO ARINOS TRANSFORMOU A SUA CASA EM REFÚGIO PARA AMIGOS PERSEGUIDOS
Obteve projeção no início da República a partir de relações que construiu com intelectuais exilados do Rio de Janeiro, em decorrência do Estado de Sítio decretado em função da Revolta da Armada em 1893, que justificou perseguições políticas. Muitos dos intelectuais da época buscaram abrigo no interior do País. Ouro Preto, então capital da Província de Minas Gerais, foi o destino de alguns. Afonso Arinos, já residente na cidade, fez de sua casa um ponto de encontro. Era conhecido também por ser um excelente anfitrião, homem afável, um cavalheiro leal, impecável e de muitos amigos. Recebeu personalidades para longas discussões políticas e culturais, como Diogo de Vasconcelos, Aurélio Pires, Sabino Barroso, Olavo Bilac, Coelho Neto, dentre outros. Nesses encontros, Arinos, ainda muito jovem, contava histórias do sertão e encantava seus ouvintes. De acordo com Alexandre Lazzari, ao fim do Estado de Sítio, com a volta dos intelectuais para o Rio, as portas de jornais e revistas da capital do País foram abertas ao nosso escritor.
- O SERTANEJO COMO PERSONAGEM CENTRAL DESCORTINA O BRASIL
Sua literatura começou a ser produzida ainda na juventude quando era estudante de Direito em São Paulo e publicada em jornais e periódicos. Mais tarde, os seus contos foram reunidos e publicados com o título Pelo sertão (1898), sua obra mais conhecida. Escreveu ainda: Os jagunços – romance (1898); Notas do dia (1900); O contratador de diamantes – drama (póstumo, 1917); A unidade da Pátria (póstumo, 1917); Lendas e tradições brasileiras (póstumo, 1917); O mestre de campo – drama (póstumo, 1918); Histórias e paisagens (póstumo, 1921); Ouro, ouro (inacabado).
Foi figura ativa no cenário cultural brasileiro de fins do século XIX e início do XX. Sempre em busca do reconhecimento para os sertanejos, inovou na forma de dar voz a eles, como nos seus contos reunidos em Pelo sertão; na abordagem da Guerra de Canudos, tomando partido dos sertanejos e mostrando como eles eram excluídos e desconsiderados pelo novo governo republicano; como intérprete do Brasil, ao atribuir a manutenção da unidade da pátria à ação dos sertanejos de todo o Brasil; e ao afirmar que a única coisa capaz de manter vivo o espírito nacional eram as tradições, a cultura imaterial indestrutível.
Arinos perseguia uma técnica que lhe permitisse colocar o discurso na boca de seus sertanejos, sem recorrer aos grifos e itálicos de costume, resultando em textos mais fluidos e naturais. Essa teria sido uma contribuição importante para abrir caminhos a outras narrativas posteriores, como Guimarães Rosa. Com a obra Pelo sertão, entrou na cobiçada sociedade letrada do Rio de Janeiro, encantando os leitores mais exigentes com suas narrativas.
Segundo Lúcia Miguel Pereira, “possuía a qualidade mestra dos regionalistas: o dom de captar a um tempo, repercutindo nas outras, prolongando-se mutuamente, as figuras humanas e as forças da natureza”.
- DE ARINOS A GUIMARÃES ROSA: A FORTE INFLUÊNCIA SOBRE AUTORES RENOMADOS
Apesar de todo o reconhecimento da qualidade da obra de Arinos, a classificação como regionalista implicava demérito. Apesar de, na época, olhar para o campo significasse estar em dia com as preocupações do presente, visto ser o Brasil, naquele momento, eminentemente rural, a concepção literária vigente exigia um universalismo que não era reconhecido nessas obras.
Criava-se um impasse em que a literatura procurava se desvincular das características europeias, buscando nas tradições do Brasil sertanejo as condições para a construção nacional, mas esbarrava na concepção de que a cultura popular era primitiva e antiquada, incapaz de representar a modernidade que se desenhava e a universidade da literatura. Assim, a literatura regionalista passou a ser considerada limitada, estereotipada, ou ultrapassada, mas abriu o caminho para o Modernismo ao buscar a originalidade do País.
Afonso Arinos influenciou escritores como Guimarães Rosa, Rachel de Queiroz e Graciliano Ramos, que escreviam sobre o sertanejo e a sua cultura popular, mostravam a realidade das populações que viviam nos sertões e suas mazelas, mas principalmente Guimarães Rosa foi retirado desse rol e elevado a outro patamar. Sua narrativa foi considerada como voltada para os valores universais, enquanto a abordagem bastante semelhante feita por Afonso Arinos não conseguiu despertar essa mesma avaliação. Seguindo esse raciocínio, André T. Pelinser diz que as obras dos dois autores “não foram pesadas e medidas na mesma balança”.
A poeticidade do falar sertanejo tão admirado em Rosa aparece também em Afonso Arinos como: “vivia seu quieto em seu canto” ou “um homem é para o outro”.
- ARINOS FOI PRECURSOR DE EUCLIDES DA CUNHA E DO MODERNISMO
O livro Os sertões, de Euclides da Cunha, retratando a Guerra de Canudos, é considerada uma obra-prima da literatura brasileira e um relato histórico do conflito.
Sob ponto de vista diferente e antes mesmo de Euclides da Cunha, Arinos publicou Os jagunços, sobre o mesmo tema. Galvão diz que “basta ler os dois livros para verificar o quanto Euclydes seguiu Arinos, enxertando episódios que ele mesmo não escrevera, aproveitando a vasta convivência do confrade com o sertão e os sertanejos, bem como a distribuição da matéria. A glória de Os sertões e a autoridade que adquiriu eclipsaram Os jagunços, relegando ao esquecimento o quanto o livro de Euclydes lhe deve, ao afeiçoar literariamente a matéria bruta” (Walnice N. Galvão, 2005).
- RECONHECIMENTO DE ARINOS NA CAPITAL FEDERAL: PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA BRASILEIRA
O Instituto Histórico Geográfico Brasileiro – IHGB – foi criado durante o período monárquico para ser um centro de estudos e produção de conhecimento sobre a história e a geografia do Brasil e se manteve como tal mesmo após a Proclamação da República. Ao longo do tempo, os maiores expoentes da história e geografia no Brasil tiveram assento na instituição.
Em fevereiro de 1901, Afonso Arinos foi eleito sócio correspondente do IHGB e, em 1910, se tornou membro efetivo, tendo publicado ali importantes estudos sobre Minas e a Inconfidência e sobre Cristóvão Colombo e o descobrimento da América.
No Rio de Janeiro, Afonso Arinos destinou textos para jornais e periódicos, que mais tarde reuniu no livro Pelo sertão. José Veríssimo, um dos críticos mais influentes do período, encomendou um texto a Afonso Arinos para o primeiro fascículo da terceira Revista Brasileira, dirigida por ele, considerado o periódico mais importante da Capital Federal. Ele enviou o conto “Pedro Barqueiro (Tipo do Sertão)”, que marca tanto a consagração de Afonso Arinos no meio literário da Capital Federal, quanto a abertura de uma nova fase da Revista Brasileira, interessada em retratar a diversidade do País.
“Pedro Barqueiro” era um conto ousado, sobre um “crioulo retinto”, descrito como valente, altivo, bonito e generoso, rompendo com as representações típicas dos ex-escravizados. O conto provocou forte impressão nos leitores e muitos elogios.
- A CONSAGRADA IMORTALIDADE DE ARINOS NA ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS
Afonso Arinos foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras em 1901 e ocupou a cadeira 40, cujo patrono era o Visconde de Rio Branco, na sucessão de Eduardo Prado. Foi recebido em 1903 pelo acadêmico Olavo Bilac, que, em seu discurso, reconheceu a forte influência de Arinos sobre seus conhecimentos de Brasil e elogiou a literatura do novo acadêmico. Bilac disse que ela refletia o tradicionalismo do autor, mas também “muita saudade, muita esperança: larga ponte, batida de sol, lançada entre o passado e o futuro”. Na continuidade, ele ressalta também que a tônica dos belos textos era a defesa de um nacionalismo de bases internas, oriundas do sertão, em contraposição ao estrangeirismo então vigente.
Ele encerra seu discurso falando sobre o poema “O buriti perdido”. Bilac concordou com o vaticínio de Arinos dizendo: “Sim! A civilização há de ganhar a paragem longínqua em que vistes, solitário e soberano, esse buriti selvagem, mas não será levada por senhores duros, cujo coração careça de ser enternecido pelas queixas da terra conquistada. O vosso velho buriti viverá, não tolerado, e sim respeitado e amado; mas [referindo-se a Arinos] viverá menos do que o gênio da nossa nacionalidade, que, como ele, há de assistir a todo o ciclo do drama da conquista, dominando-o e dirigindo-o” (Bilac, 1903).
- A LITERATURA COMO VETOR DA UNIDADE NACIONAL
Afonso Arinos acreditava ter a literatura uma missão, a de consolidação da nação por meio da construção de um conhecimento autenticamente brasileiro. Alguns autores o consideravam o descobridor do “verdadeiro Brasil”.
“Afonso Arinos pode, sem favor, ser considerado, em verdade, como um dos máximos inspiradores, diretos ou indiretos, do movimento sadiamente nacionalista que se vem fazendo sentir, de algum tempo a esta parte, em toda a nossa atividade intelectual e que, sob o aspecto propriamente literário, atinge agora em São Paulo o mais alto grau de expressão” (Silva, 1922, p. 127).
Arinos considerava que ainda não havíamos alcançado a maturidade do estado d’alma da nação; por isso, o esforço da literatura deve ser no sentido de uma unificação nacional. Como monarquista, partilha do receio da fragmentação do Brasil. Sua visão sobre a unidade nacional é clara e está expressa diretamente na “Conferência A Unidade da Pátria“, realizada em Belo Horizonte em meados da segunda década do século XX.
Para Arinos, a República estava destruindo séculos de esforços no sentido da unidade nacional, implantando um sistema federativo aos moldes norte-americanos. Segundo o autor, ao contrário dos Estados Unidos, o Brasil já possuía certo grau de unidade quando da Proclamação da República, e “[…] a federação, tal como foi aplicada, separando violentamente as províncias antes unidas, é o caminho do desmembramento […]” (p. 78).
- DEFESA DE IDEIAS, IDEAIS E DAS NOSSAS RAÍZES NO MAIOR CENTRO CULTURAL DO PAÍS
A cultura popular, com suas tradições, lendas e seu folclore, permeou toda a produção de Arinos, assim como sua ousadia em defender suas ideias e a convicção de que os intelectuais brasileiros precisavam tomar contato e assumir a defesa desse Brasil sertanejo como fonte da verdadeira, forte e original nacionalidade brasileira.
A série de seis conferências proferidas por Arinos, no renomado Teatro Municipal de São Paulo, sobre “Lendas e Tradições Brasileiras”, que culminaram com apresentações de grupos folclóricos originais, anos antes do movimento modernista iniciar sua trajetória no mesmo sentido, despertou grande entusiasmo. Como foi em 1916, em pleno período da Primeira Guerra Mundial, que estava provocando enorme destruição, ele comenta:
“Nestes dias de eclipse da grande civilização do século XX, ficou provado que os maiores, os mais bellos, os mais ricos monumentos da superfície da terra se arrasam e pulverisam […]. Só uma coisa sobrenada no cataclysmo; só uma arte desafia os iconoclastas, só um thesouro não teme o saque: — o fundo de tradições, de ideal, de poesia, que são a alma de uma raça e o documento único de sua identidade entre os seus companheiros de planeta. Essa defesa da Cultura Imaterial justificaria todo o investimento em conhecer as Lendas e Tradições de um povo”.
- “O CONTRATADOR DE DIAMANTES” MARCA O ENCONTRO ENTRE AS TRADIÇÕES E O BRASIL MODERNO
A elite paulista, que defendeu uma ruptura estética sem rompimento político, viu na peça O contratador de diamantes, de Arinos, uma forma de valorizar suas tradições bandeirantes e conjugar a descoberta de um Brasil profundo, sedimentado num passado autóctone, com a empreitada de construção de uma nacionalidade moderna.
A peça sobre Felisberto Caldeira Brant, bandeirante que descobriu o ouro em Paracatu, representava a vida suntuosa da elite ao lado de manifestações populares tradicionais, e foi encenada em 1919 (3 anos após a morte de Arinos e antes da Semana de Arte Moderna de 1922), no Teatro Municipal de São Paulo, tendo, por atores e produtores, membros da mais reconhecida elite paulista, que, sendo fiéis ao texto, levaram ao palco um grupo original de congada, que dava à peça uma característica nativista.
Essa peça ainda virou ópera, escrita e musicada respectivamente por Mignone e Bottoni, estreou em 1924 no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e representa muito bem o cenário do século XVIII, tendo como personagem Felisberto Caldeira Brandt, aristocrata que foi o contratador de diamantes no Tejuco, hoje Diamantina. A peça, baseada em fatos reais, começa com um baile suntuoso, no qual se desenrola, nos bastidores, o drama da autuação do anfitrião, acusado de desvio de diamantes, enquanto uma congada acontece em cena, porém Mignone dilui a presença negra, suavizando as canções de origem africana. O ápice se dá com as ideias de liberdade sendo valorizadas, contra a opressão da Coroa Portuguesa que prendeu o Contratador.
- REPERCUSSÃO NO SÉCULO XX: UM BURITI PERDIDO EM BRASÍLIA
A construção de uma capital no centro do Brasil, defendida desde o período Imperial por José Bonifácio, que havia sugerido sua localização em Paracatu, parece confirmar também duas profecias. A de D. Bosco, que profetizava a construção de uma grande cidade, que seria a “Terra Prometida”, entre os paralelos 15 e 20, localização exata de Brasília, e a de Afonso Arinos, que dizia em seu poema “Buriti perdido”: “[…] Se algum dia a civilização ganhar essa paragem longínqua, talvez uma grande cidade se levante na campina extensa que te serve de soco, velho Buriti Perdido. […] fará com que figures em larga praça como um monumento às gerações extintas, uma página sempre aberta de um poema que não foi escrito, mas que referve na mente de cada um dos filhos desta terra”.
Em sua homenagem, o edifício sede do Governo do Distrito Federal foi denominado Palácio do Buriti e, na praça do mesmo nome, foi plantada essa palmeira, que se tornou símbolo da Capital Federal, e aos seus pés foi depositada uma placa com os versos alusivos do poema.
DISCURSO:
Discurso do SR. AFONSO ARINOS e Resposta do SR. OLAVO BILAC
Sessão solene do dia 18 de setembro de 1903
DISCURSO DO SR. AFONSO ARINOS
Senhor Presidente, Ex.mas Senhoras, meus Senhores: Chamou-me a Academia Brasileira de Letras: aqui estou. Timidamente me aproximo da cadeira de que é patrono o Visconde do Rio Branco e que foi ocupada por Eduardo Prado. Entro em dúvida, hesito, antes de bater-vos à porta, Srs. Acadêmicos; aqui chegando, não sei se retroceda, não sei se avance para preencher meu lugar, que decerto não é o meu. Passa-me pelos olhos a cena que vi outrora, numa gravura antiga: um estranho – cliente, pedinte talvez – vai atravessar o átrio do palácio de um patrício romano; o pórtico, silencioso, rijo, ereto nas colunas de mármore, está materialmente aberto ao acesso do estrangeiro, mas, ele o sente bem, tudo lhe embarga o passo e lhe veda a entrada; ei-lo a volver olhos assustados, buscando coragem nas paredes duras, pedindo animação aos mármores, esperando o aparecimento súbito de algum semblante amigo. Foi, decerto, porque conhecíeis bem a minha intimidade com Eduardo, que a vossa atenção se prendeu ao meu nome; não só a nossa intimidade, como a afinidade das nossas idéias devem ter sido o motivo principal da minha eleição. Queríeis, para representar Eduardo Prado, alguém que tivesse privado com ele e vos pudesse talvez pintá-lo ao vivo na intimidade sadia e interessante daquela vida tão viva, tão exuberante. A pessoa é ainda a dele e essa insubstituível; eu representarei apenas a sombra, ou, se quiserdes, o culto a quem desapareceu dentre vós. É, pois, um motivo de sentimento que me faz compa141 recer perante vós. Ainda uma vez – e esta numa sociedade de intelectuais, de homens de sã razão – se confirma a verdade de que mais nos move a todos o sentimento do que o raciocínio, a despeito de tudo quanto possamos dizer do sexo fraco. Procurastes em mim uma como reminiscência de Eduardo Prado. Mas foi também um motivo de sentimento que levou Eduardo a tomar como patrono de sua cadeira o nome do Visconde do Rio Branco, não foi só a homenagem ao estadista, a admiração pelo diplomata, o respeito pelo professor, mas, principalmente, a amizade que Eduardo Prado votava ao segundo Rio Branco, legítimo herdeiro do nome e da glória do primeiro. Se em mim procurais uma lembrança, no grande Rio Branco, Eduardo procurou um tributo de veneração e afeto. Antes, porém, que me ocupe de mim, ainda mesmo com o pretexto de cumprir um dever, qual o de agradecer-vos a eleição, permiti que eu vá dizendo o que senti, o que sinto, quando vejo unidos nesta cadeira dois nomes tão distantes um do outro pelo tempo, tão diferentes na forma da ação de cada um neste país e tão misteriosamente ligados, não como dois contrastes ou dois extremos a se tocarem, senão como duas forças opostas apenas para constituição de um equilíbrio, concorrentes, pois, para o mesmo fim. Rio Branco, filho do passado colonial, herdeiro da resistência tenaz contra a independência, olhava para o futuro; Eduardo, filho do presente, nascido já no declínio do século XIX (1860), tinha os olhos fitos no passado. Vindo ao mundo ainda na era napoleônica (em 1819), onze anos depois que a Corte portuguesa, buscando as praias deste lado do Atlântico, pôde salvar Portugal do que sofreu a Espanha, o Visconde do Rio Branco, por seu pai, Agostinho da Silva Paranhos, por seus tios, o Capitão-Mor da Bahia Antônio da Silva Paranhos e o Coronel de Milícias João da Silva Paranhos, respirava aquele aferro à Metrópole, aquela paixão reacionária contra a emancipação da colônia, emancipação que o bom senso seguro, a clarividência e o espírito prático de D. João VI previram e contra a qual o patriotismo português protestava, não por desamor ao Brasil, mas por amor egoísta de velho pai, sob ameaça de uma separação; por amor das velhas glórias portuguesas, cuja conservação parecia intimamente ligada à conservação do mais importante domínio ultramarino do reino. A família Silva Paranhos, honrada e genuinamente portuguesa, portouse, naquela ocasião do domínio lusitano no Brasil, com o lealismo rude, o devotamento de pessoas e bens à causa da Pátria, a renúncia, sem espalhafato, da própria posição em holocausto à rija norma de fidelidade – virtudes deveras não raras em portugueses e que vereis em esplêndido relevo no lema tirado de uma das frases atribuídas ao vice-rei D. João de Castro por seu historiador Jacinto Freire: “é esta a herança que legaram nossos maiores – morrer gloriosamente pela lei, pelo Rei e pela Pátria.” O futuro estadista brasileiro veio ao mundo três anos antes da triste era de provações que foi para sua família a resistência de Madeira, na Bahia, e, principalmente, o período posterior ao 2 de julho. Sofreu com o sofrimento dos seus; e o seu espírito, partindo daí, tomou largo surto para o futuro, encabeçando, sem que o soubesse então, talvez sem que o sonhasse, essa política nova, puramente americana, de atração e incorporação do estrangeiro, cujo dedicado e ardente pregoeiro foi, mais tarde, no dizer de Joaquim Nabuco, o vosso antigo e saudoso confrade Visconde de Taunay. Assim, pois, meus Senhores, Rio Branco, filho da época da Santa Aliança, nascido depois da vitória desta contra Napoleão, quase em meio do renhido duelo do antigo espírito conservador, profundamente monarquista, contra o desencadeamento da doutrina do Contrato Social que dava ao povo o governo direto do Estado e cuja realização nunca passou daquelas páginas do livro de Rousseau – fez como Péricles: do seio do mais obstinado aferro aos velhos moldes, ao que Taine chamou, na sua obra capital, L’Ancien Régime, partiu para o mais amplo liberalismo. Também Péricles, do orgulhoso espírito aristocrático, cujo kanon era um como patriarcado, cuja religião era a da família, segundo a descreve Fustel de Coulanges, saía para ser o chefe da democracia helênica. Rio Branco na política e Mauá na indústria e no comércio foram os chefes do americanismo no Brasil; sua ação continua ainda, até que se feche o ciclo histórico iniciado com as últimas reformas do segundo reinado. O que eu chamo americanismo é simplesmente a recíproca do que os europeus e anglo-americanos chamam expansionismo e imperialismo. O momento, para as grandes nações pejadas de população e de riquezas, é de se desdobrarem; para nós, donos de vastos territórios despovoados, é de formarmo-nos, de constituirmo-nos, de crescermos e de sermos uma nação, enfim. Aquelas, já formadas, tendo já atingido a maturidade, estão na fase biológica do desdobramento, da prolificação, do que Spencer chama “excesso de crescimento”. Nós temos que receber delas, temos que crescer à custa do Velho Mundo, temos que tonificar-nos com as sobras da sua população, com o produto do seu trabalho. Ora, o que eu chamo americanismo é o estado peculiar às duas Américas – de serem nações a formar-se, de caráter ainda indeciso, de feições mal pronunciadas, não tendo ainda nem passado, nem história, nem arte, nem literaturas constituídas e definidas; o que eu chamo americanismo é o reconhecimento desse estado de elaboração, se o quiserdes de fermentação, ou melhor, de fusão de elementos, de concorrência, enfim, de fatores, para que se desenhe o nosso tipo nacional; o que eu chamo americanismo é ainda, Senhores, a defesa dos elementos nacionais já pronunciados, já vivos, denunciando já as linhas do tipo futuro, revelando já, no vago dos traços do Brasilinfante, as linhas másculas do Brasil-homem. Rio Branco, Senhores, foi dos mais completos intérpretes desse americanismo. Eduardo Prado também o foi. Mas Rio Branco, vivendo na vigência do antigo espírito conservador, propulsava a máquina, em largos arrancos, para o futuro; ao passo que Eduardo, agindo num período oposto, de monomania de reformas, de desprezo de tradições, de destruição do passado, dava contravapor, volvia-se com todas as veras da alma para esse passado; ambos, porém, defendiam, na sua mais veemente, mais nobre, mais leal expressão, o que de mais nobre, de mais leal, de mais brasileiro se possa encontrar no Brasil. Mas, ao passo que Rio Branco, crescido dentro dos vossos moldes, encerrado neles, vivendo neles, tinha, para caminhar, de arrastar consigo a sua época, de entrar, portanto, como figura magna na vida pública, de dominar os espíritos dos seus contemporâneos, infundindo-lhes ou impondo-lhes suas próprias idéias e exprimindo-as por eles, realizando-as até; tinha de ser, pois, fatalmente, chefe político em ação, estadista à testa dos negócios públicos de sua terra; – Eduardo, crescido no tempo em que o espírito democrático saía do seu álveo natural para tornar-se revolucionário e anárquico; Eduardo, vivendo no tempo da enchente da democracia, quando a corrente, ou, usando de uma frase muito repetida, outrora, no nosso parlamento, “a pedra do alto da montanha” já rolava impetuosa; Eduardo, sentindo nesse excesso de liberalismo o perigo da destruição para os poucos elementos mal definidos ainda da nossa nacionalidade, sentindo o risco de naufrágio da tradição portuguesa, vendo de perto o perigo de absorção pela vaga anglo-saxônia; Eduardo, moço do século XX, agarrou-se às tradições do passado, sem temor de ser esmagado no caminho: segurou-se ao rochedo da nossa história, viveu nela, viveu por ela, morreu fiel a ela, defendendo-lhe as duas principais forças, as suas melhores expressões nos povos da Península Ibérica de que descendemos – a Monarquia e a Igreja. O seu monarquismo não era, assim, o que superficialmente, ou, segundo os nossos hábitos, por indolência de indagar as causas, chamaram esnobismo, excentricidade elegante, originalidade literária; não era também político, segundo a acepção da palavra nas palestras, nos parlamentos e nas gazetas; era mais alto, mais filosófico, mais fundamente social: era o amor à nacionalidade brasileira. Note-se que não digo “ao Brasil” propriamente, porque este crescerá sem nós e a despeito de nós. Tomaram eles, os fortes, os grandes povos que assistem ao chamado desperdício de um continente por aglomerações de incapazes – tomaram eles que nós sejamos postos à margem no governo deste território! Por isso, eu emprego o vocábulo “nacionalidade” para significar o culto que dedicava Eduardo à forma bruxuleante, ao tipo em formação do brasileiro no Brasil, o tipo que ele conheceu, que ele amou e que ele queria triunfasse na luta das raças ou das nacionalidades. Eduardo queria que o Brasil fosse o futuro de Portugal; que fosse o santuário onde, dentro de menos de um século, Os Lusíadas seriam guardados por cem milhões de brasileiros; onde as tradições da velha terra lusitana, coloridas pelas do tupi-guarani e do negro, tão repassadas de melancolia, pudessem cantar, ao baque das enxadas e ao ruído das charruas nos nossos hoje desertos, como cantam as tradições britânicas nas savanas da América do Norte, que, há meio século, eram conhecidas apenas pelas tribos errantes do indígena ou pelos quakers. Eduardo queria, Senhores, que a história do Brasil fosse e continuasse a ser o que, no dizer de Guizot, é a dos Estados Unidos da América do Norte: o desenvolvimento da história da mãe-pátria. Esse moço que podia repetir a trova da opereta, pois mais de uma vez realizou a volta do mundo, parou comovido na ocidental praia lusitana, como junto ao paiol da velha casa paterna; conviveu com os grandes homens que falam a nossa língua; percorreu a província portuguesa, ombreou e misturouse com o povo, amou os olivais, os vinhedos, os castanheiros, as faias, os carvalhos, o quente colorido dos trajes e das trovas aldeãs, e pôde ser, e foi, no seu cosmopolitismo, no seu variado conhecimento de tantos povos e tantas línguas, um amigo sincero e estremecido não só do Brasil, mas do brasileiro. Entretanto, seus escritos quantas vezes foram inquinados de antipatrióticos, quantas vezes o acusaram de difamador do Brasil! Ouçamo-lo a repelir seus detratores: “Esta pecha de antipatriotismo – disse algures – é das mais banais e a que com mais freqüência os homens da política atiram uns aos outros nas lutas dos partidos. Compreendemos a pecha de antipatriotismo atirada aos literatos que pretendem descrever costumes, aos filósofos que traçam caracteres e que podem dar uma idéia deprimente da dignidade e da moralidade de uma nação. Mas patriotismo em mineralogia, em fitografia, a propósito de pedras e árvores, não compreendemos. Antipatriotas, nós? É uma injustiça! Nós, que exaltamos a coragem do nosso povo, a sua energia, a sua constância; que temos um imenso amor pela sua história, pelo drama da conquista desta terra; que, com reverência, amamos a nossa raça e tudo que a ela se refere – as lendas da sua vida primitiva, as tradições do seu passado; que amamos a língua que falamos, a arte de nossos pais de além-mar; que temos imensa ternura pelo nosso homem do campo, que com ele convivemos, ouvindo-lhe as longas narrativas e o pitoresco falar; nós, que temos votado a vida ao estudo de tudo quanto é brasileiro – nós não temos patriotismo!” É, como se vê, um queixume sentido, um protesto eloqüente. Outra vez, disse Eduardo, com acento de filial carinho, num dos seus tão sinceros, tão espontâneos e, por isso mesmo, tão claros e fluentes escritos: “É esta a pátria nossa amada, que, há mais de 330 anos, a nossa raça, lutando contra os homens e contra os elementos, conseguiu fundar. Encontramos dificuldades e obstáculos de que a nossa energia triunfou. Nesta zona tropical, que se dizia inabitável, levantamos a nossa tenda e, sob o céu dessa terra nova, cresceu e multiplicou-se a nossa raça com a força e a fecundidade das plantas vivas que deitam raízes fundas e estendem longe a verdura das suas frondes. Temos vivido do trabalho, regando com o suor de todos os dias uma terra que só pela violência do labor frutifica e nos alimenta. A tez branca que a nossa raça trouxe da Europa aqui se tem dourado ao fogo da um sol sempre ardente. Temos tomado às feras os largos pedaços de terra, rasgando o véu sombrio da floresta hostil: e onde dominavam as febres da terra inculta, há hoje a verde salubridade das lavouras. Entram pelos nossos portos os navios que nos trazem os habitantes de outras terras que conosco vêm trabalhar; e, nos caminhos de ferro que fizemos, circulam em nosso solo a vida e a força. E tudo isso fizemos sendo um povo brando e sociável, que nunca atormentou nem supliciou os fracos, deu liberdade aos cativos, amou a paz e soube repelir pela força a agressão dos fortes.” Ora, haveis de compreender, meus Senhores, que dado esse temperamento de Eduardo, dado esse amor pela história e a tradição brasileira, ele se revoltasse contra o desprezo da história e da tradição, contra o desprezo dos velhos costumes, a queda das instituições anglo-saxônicas da América do Norte ao nosso país. “O furor imitativo dos Estados Unidos”, lê-se na Ilusão Americana, página 54, “tem sido a ruína da América Latina. Péricles, no seu célebre discurso do Cerâmico, disse: dei-vos, ó atenienses, uma constituição que não foi copiada de nenhum outro povo. Não vos fiz a injúria de dar-vos, para vosso uso, leis copiadas das de outras nações. Há muita grandeza na exclamação do gênio grego. Há uma presciência de tudo quanto descobriu a ciência social moderna, que, afinal, se pode reduzir nisto: as sociedades devem reger-se por leis saídas da sua raça, da sua história, do seu caráter, do seu desenvolvimento natural. Os legisladores latino-americanos têm uma vaidade inteiramente inversa do nobre orgulho do ateniense. Gloriam-se de copiar as leis de outros países! Todos os povos espanhóis na América, declarando a sua independência, adotaram as fórmulas norte-americanas, isto é, renegaram as tradições de sua raça e de sua história, sacrificando ao princípio insensato do artificialismo político e do exotismo legislativo. O que colheram desse absurdo di-lo a triste história hispano-americana deste século (XIX). O Brasil, mais feliz, instintivamente, obedeceu à grande lei de que as nações devem reformar-se dentro de si mesmas, como todos os organismos vivos, com a sua própria substância, depois de já estarem lentamente assimilados e incorporados à sua vida os elementos exteriores que ela naturalmente tiver absorvido.” Se atentastes bem nestas últimas palavras, deveis ter notado a forma perfeita de que soube Eduardo revestir uma verdade fundamental. Era assim o seu nativismo, um nativismo inteligente, de quem viu inteligentemente o mundo e elegeu esta pátria, não para sua morada material, mas para a morada dos seus afetos, das suas predileções. Este brasileirismo de um cosmopolita, de um homem cujo sentimento dominante era o de sociabilidade, era o que ele próprio chamou a simpatia irradiante e ativa pelos homens e as cousas; este nativismo em quem, revelando numa frase todo o seu amor pelos homens e as cousas na sua passagem pelo mundo, chamou-lhes companheiros de planeta na grande viagem dos seres – este nativismo é bem diverso do sentimento mesquinho de ódio ao estrangeiro, que, em período ainda recente de nossa história, tanto nos desvairou. E o que é mais digno de nota é a enorme incoerência daqueles nossos nativistas: ao passo que perseguiam os estrangeiros com ódio nas ruas, ao passo que repeliam o homem de outras terras que livremente aportava às nossas praias para trabalhar conosco, copiavam trefegamente tudo quanto era alheio, repelindo irreverentemente tudo quanto é nosso! Companheiro de planeta – disse Eduardo. Há frase que indique mais largo sentimento de fraternidade, mais ampla ternura, não só pelo homem, como ainda pelo animal, a planta e a rocha? Todas as cousas da terra têm o seu lado simpático, tudo é digno de ser amado – sentia ele. “Para bem pintar – lê-se no seu estudo sobre Eça, publicado na Revista Moderna – é preciso bem ver, cousa diversa da vaga faculdade de enxergar, comum aos homens e outros animais da terra. Para bem ver é indispensável o exercício da atenção, que resulta do dom inapreciável do interesse pelo mundo e pelos homens, dom que não vai sem a simpatia irradiante e ativa, revelação ideal e sintética de uma bondade generalizada.” Esse modo de familiarizar-se com a Natureza, de conversá-la íntima e fraternalmente, revela nele o que Bagehot, no seu finíssimo estudo sobre Shakespeare, o Homem, chama an experiencing nature, qualidade que não possuem os sábios, os homens de abstração, os que, no meio de nós, estão sempre ausentes de nós. Esta experiencing nature, na qual a curiosidade, viva e ativíssima, busca e recolhe os fatos, produz também os dois elementos que o citado escritor encontra nas boas descrições – o conhecimento de fatos e a sensibilidade aos encantos. Para conhecer Eduardo, meus Senhores, será preciso mostrá-lo na intimidade do seu viver. Tentarei fazê-lo. Num dos Contos Fluminenses, disse Machado de Assis, parodiando conhecido anexim: “Dize-me como moras e dir-te-ei quem és.” Recente obra histórica, publicada na Inglaterra, sobre os estadistas da República Romana, procurando refutar esse fatalismo segundo o qual julgamos tudo pelo sucesso, reconhece que há homens que estão acima de suas obras e entre estes aponta Tibério Graco. Acho que nós não podemos conhecer Eduardo só por suas obras, pois sua carreira foi interrompida pela morte quando em plena ascensão. Os seus livros são muitos, mas Eduardo era capaz de mais. Moniz Barreto, aquele moço de gênio que morreu em Paris aos trinta anos, depois de ter-se-nos revelado um pensador, disse verbalmente a mim que Eduardo era uma das mais completas organizações de escritor que ele jamais vira. Procuremos, pois, ler o livro vivido de Eduardo Prado, aquele cujas páginas ficaram dispersas pelo mundo percorrido por ele. Assim compreendereis que aquele moço arrebatado à vida antes que se revelasse por completo ao seu país, é digno de estar ao lado do estadista notável cujo nome a história já glorificou e os contemporâneos já perpetuaram. Rio Branco, cuja vida, cujo papel, cuja carreira bem representam a marcha da nacionalidade brasileira para tomar lugar no mundo; Rio Branco, que vem da emancipação política com a Independência, até à emancipação social, com a redenção dos escravos; Rio Branco que, ao partir criança da Bahia, a terra do seu berço, embarcou em uma nau cujo nome – Regeneração – parecia simbolizar uma carreira futura; Rio Branco está bem acompanhado por quem, no meio do naufrágio das nossas instituições peculiárias, das nossas tradições mais puras e quem sabe se da nossa raça, agarrou-se ao passado sem receio de que o arrastasse a torrente vitoriosa e protestou contra a imposição do sistema federativo e presidencial do Brasil. Foi um erro de Eduardo, dirão muitos. Quem o sabe? Não há medida exata, ou, pelo menos, reconhecida para as forças sociais; como as marés, estão em contínuo fluxo e refluxo e nunca as praias puderam marcar o limite real atingido pelas vagas no preamar. Sem me deter mais na análise da feição social e política da obra de Eduardo Prado, sem levar longe a indagação das causas, do móvel, do fundamento, não só da sua orientação política, como da sua posição na política, deixai que eu tente descobrir-vos o homem na sua intimidade. Devera talvez começar por aqui, mas não me pareceu melhor fazê-lo, encontrando-o, como o encontro, ligado nesta cadeira ao nome de um homem público por excelência, de um estadista consagrado. * * * A morada que Eduardo amou, o seu verdadeiro home, a casa onde eu o conheci e por onde, aplicando a citada sentença de Machado de Assis, eu pude julgá-lo; a moldura onde primeiro vi o seu retrato, a que, portanto, primeiro me impressionou, não foi a garçonnière que os seus íntimos conheceram em Paris, à Rua Casimir Périer, nos verdes anos de Eduardo, nem a habitação aparatosa da Rua Rivoli, onde, já maior de trinta anos e casado, Eduardo reuniu, em vasta sala forrada dos nossos velhos damascos da Índia, a biblioteca de livros e documentos brasileiros; foi, sim, a sua fazenda do Brejão. Aí, no oeste de São Paulo, entre o Mogiaçu e o rio Pardo, águas do rio Grande e Paraná, a 651 metros acima do nível do mar, e a cerca de 350 quilômetros da costa, em um terreno ondulado, coberto outrora pelas mais frondosas matas virgens e hoje vestido de cafezais a perder de vista, – aí passou ele os seus últimos e profícuos dias de existência. É o pleno domínio da terra roxa, fofa, macia, com as suas nuvens de pó, quando, pelo tempo da colheita, vão e vêm as carroças carregadas de café. No verde-escuro do cafezal que coroa os outeiros cruzam-se os carreadores ou ruas com a regularidade das linhas de um planisfério. Bandos de raparigas descalças, com as cabeças envoltas em vistosos lenços, encaram o cavaleiro em marcha, deixando flutuar na claridade dos olhos castanho-escuros e azuis um misto de curiosidade e respeito. Quase todas sobraçam balaios, cestos de formas várias, utensílios agrícolas diversos. Se a tarde vem baixando, é a volta do trabalho. Sobre as cabeças, quantas delas formosas, pesam feixes de lenha para a cozinha caseira ou molhos de capim para o cavalo de sela do chefe da família. Lá vêm os homens, com o andar pesado e o ar inexpressivo de quem repete todos os dias, de sol a sol, a mesma fadigosa labuta, sem um incidente a quebrar-lhe o tédio. Esperais debalde ouvir esses cantos do crepúsculo, de que vos falaram decerto vossos livros bucólicos: debalde esperais bulício, papaguear, animação, rumores de grupos que, ao fim da tarefa, vêm para casa descansar. Essa gente mostra certo ar de recolhimento: ela marcha como quem está cumprindo um dever; oprime-a uma preocupação; um pensamento assombreia-lhe os rostos – a Pátria distante: são os colonos que se recolhem. Eis ali a fila de casas rústicas, com seus chiqueiros ao lado; no vasto terreno em comum, que é o logradouro da colônia, pasta o seu gado; junto das casas onde se vêem cercas entressachadas de madressilvas, retoiçam crianças, balbuciando uma língua estrangeira. Não é a nossa volta da roça, em que o mulato pernóstico ou o caboclo imaginativo conta casos ao vivo, imitando as passagens com entusiasmo, acrescentando um ou mais pontos a cada conto. Para este o horário é o “mais hoje, mais amanhã”, a previsão é o “lá se avenha”, a segurança é o “deixar correr trinta dias por um mês”. A gente que aí passa é bem diversa; exilou-se da pátria em busca do trabalho tendo este fito – libertar-se do trabalho pelo trabalho; não se mostra alegre, não se expande aqui nos mesmos entusiasmos que tanto a caracterizam no seu país, porque não há alegria perfeita fora da Pátria. Entretanto, ao mesmo tempo que ela fecunda com o seu suor a terra brasileira, enriquece-a com seus filhos, e estes são nossos, bem nossos, pois mesmo neste trecho de Itália Austral que é o oeste de São Paulo, o menino colono já vai metendo no correão da cinta a faca do caipira, já vai traçando no pescoço o lenço vermelho, já vai dobrando na testa a aba do chapéu de palha, já vai dependurando nos calcanhares as chinelas, já vai quebrando o queixo dos machos ariscos, à força de barbicacho, já vai, finalmente, falando este português bamboleado, vagaroso, sem o “re” no fim da palavra, característico da prosódia brasileira. Continuemos, porém. Eis aqui no cocuruto do morro ainda um trecho de mata virgem, exíguo embora para a morada dos jaguares. Saúdam-nos as frondes vitoriosas dos jequitibás, emergindo dentre a multidão cerrada que os cerca. Sente-se aí o excessivo vigor da terra; a vegetação brota com fúria, por toda a parte, e briga e se agarra, arbusto contra arbusto, árvore contra árvore, e roja e se contorce, ou salta num ímpeto para o alto, levando presos nos galhos verdoengos tufos coloridos de orquídeas. O musgo oscila na ramaria como farrapos de bandeiras. Os cipós, pacientes, perseverantes, traiçoeiros, vão coleando troncos e galhos, soltando laçadas que tremulam nos ares e formando pontes bambas por onde se escorregam os caxinguelês. Aqui sentis, à sombra escura das árvores anciãs, um odor suave: um manacá florido se vos apresenta como um ramalhete; acolá um cheiro intenso vos dilata as narinas e vos denuncia ao mesmo tempo a seiva exuberante do terreno: é o pau-d’alho, padrão, ou, segundo o termo caipira, “vestimenta” de terra boa. As taquaras se esfregam haste contra haste, gemendo ao sopro do vento, as borboletas lá vão carregadas brandamente; alam-se, revoam, volitam e perdem-se pouco a pouco na espessura… Depara-se-vos um claro na mataria; os raios de sol não descem apenas, escorrem quase tangivelmente, estendendo rico tapete ponteado de estrelas, aos pés do rei da floresta: é o seu trono. Se viésseis com cuidado, deveríeis ter notado, mais longe, um pórtico de troncos retos e altos que anuncia a proximidade do Rei: este é um jequitibá mais que secular, de cerca de vinte metros de circunferência e de não muito longe de uma centena até às pontas dos galhos mais altos. Debalde a sua fronde soberana se agita ainda nos ares, sobre todas as outras: fugiu dele a alegria e nem mais o passaredo o procura para dos seus galhos desferir a alvorada. Um parasita roaz lhe devasta as entranhas; a sua pele encarquilhou-se, o galho mais forte ruiu apodrecido; mas ele resiste ainda; a sua agonia durará talvez um século e ele morrerá de pé, sem um gemido, e reinará ainda depois de morto, dominando com o seu cadáver as novas e velhas verduras circunvizinhas. Fora da mata. O caminho vai descendo agora. Lá embaixo, no fundo de um ninho de colinas de macios contornos, sentireis “o langor dos vergéis em que os frutos e as verduras se impregnam de sol”, segundo o verso atribuído a Psappha ou Safo, a poetisa de Mitilene, a fabulosa suicida de Lêucade. Por uma avenida de eucaliptos, entre os quais uma canjerana, em alto soco de pedras, ergue a copa cerrada e espalha sombra mais propícia, vereis estas palavras – ora apagadas – que alegrariam imediatamente o visitante do Brejão, gente cosmopolita na sua maioria – Welcome to Brejão – em letras garrafais. A avenida estende para nós, carinhosamente, os dois renques de árvores como dois braços que nos convidam a espancar vãos receios e a acolher-nos, de coração aberto, à hospitalidade do morador. Aborda-se a fazenda pela face esquerda do edifício, de onde se destaca uma ala que termina pela capela e forma com o corpo da casa um ângulo reto; aí uma figueira colossal, digna êmula do seu parente, o baobá africano, esparrama ao largo a galhada, insistindo pelo repouso dos viandantes singulares e das caravanas. Bordando os três lados da casa, o jardim, com a grande fonte de farto jato, as ruas de roseiras, os trinta e nove rumorosos coqueiros e, na ala para onde davam a sala de vestir do homem de sociedade e o salão da biblioteca do escritor, um esplêndido cinamomo, povoado de ninhos e de melodias, a defrontar um alentado pau-d’alho. Desse mesmo lado o pomar, com a frescura das sombras e das águas e a riqueza do frutal. Aí todos os sabiás, desde os de Gonçalves Dias até os modestos das gaiolas dos taverneiros, entoam os louvores da terra das palmeiras, que aquela o é de fato. Eis-nos agora no topo da escada; quase a alcançarmos a espaçosa varanda onde os peregrinos se reúnem. Corre ao nosso encontro um homem vestido de ganga amarela, coberto por largo sombreiro de feltro claro; estende-nos afetuosamente a mão gorda e macia e nos introduz no salão: é o dono da fazenda. Reparai um pouco no vosso hospedeiro: estatura acima da mediana, encorpado, fala-vos rapidamente, com os lábios meio cerrados e o acento sibilante; agora está de cabeça descoberta e mostra, bem limitada por fortes cabelos pretos, a placidez de uma fronte lisa, alta, olímpica; debaixo dessa fronte luzem dois olhos límpidos, vivíssimos, a que o cristal do pince-nez não pode tirar a forte expressão, nem o ressaibo saltitante de malícia. Num relance percorreis o salão: há cousas que a gente não encontra juntas nas lojas, há objetos apanhados aqui e além pelo mundo; tapetes do Oriente unidos irmãmente a um soalho de madeiras brasileiras, sofás de nosso estilo empire de há sessenta anos, esteirinhas malaias, gravuras de antigas ladies a ombrearem com uma coleção de estudos de Pedro Américo, faianças várias, um antigo lustre com velas vermelhas, macias poltronas inglesas perto de uma rede cuiabana; aqui mora um globe-trotter. Levantais os olhos e percebeis que os vivíssimos olhos do vosso hospedeiro têm um fulgor de quem sabe ver e viu, e o fazendeiro logo se vos revela: é Eduardo Prado. A fim de pordes um pouco de ordem no vosso vestuário, ele vos convida para o quarto de vestir, ao mesmo tempo que se curva para fazer festas à Margaux, a cadelinha favorita. Aqui, sim, há muito do Jacinto d’A Cidade e as Serras; notais logo em largas cômodas, forradas de finas toalhas de linho bordadas, a profusão de escovas, a bateria de ferrinhos complicados, a fileira de frascos vários. Em prateleiras, alinham-se, brunidas, filas de botas, botins, sapatos, alparcas, socos, sandálias, borzeguins, às dezenas; batalhões de chapéus alpinos, tiroleses, ingleses; nesse incomparável sortimento, há reminiscências das cinco partes do mundo e das quatro estações do ano; há de tudo, para tudo. Não é menos rica a coleção de capas, de bengalas, de roupas em vastos armários de robusta madeira nacional – tudo na ordem mais rigorosa. Até o traje completo do jagunço lá encontrareis – as perneiras, o jaleco, o facão e o chapéu de couro. Deixemos, porém, aqui o homem de sociedade, o elegante, passemos à sala contígua: estamos na biblioteca: é esta a mansão do escritor. A frescura e o silêncio vos convidam ao repouso do corpo e ao trabalho do espírito. Junto à janela sombreada pelo cinamomo, que sussurra brandamente, rodeado o tronco por uma moita de guembês viçosos, está a mesa de trabalho, sem o mínimo desalinho; perto, um vaso japonês com esplêndidas rosaspríncipe-negro. Pelas paredes, gravuras de personagens coloniais; e, de um e outro lado, atopetadas com o teto, as finas estantes carregadas de livros; junto delas deslizam sutilmente, em molas invisíveis, as leves e compridas escadas. Aí Eduardo vos mostra algumas edições preciosas, maravilhas do bibliófilo, aponta-vos obras raras, apresenta-vos os amigos íntimos, os livros que ele conversa diariamente. Em seguida conta um caso: um amigo, entendido em letras, ao percorrer aquela biblioteca, estranhou que faltassem obras de literatura! debalde vira as obras completas dos grandes autores, desde a Grécia até aos tempos modernos… Não! Shakespeare não era literatura, Goethe não era literatura; Herculano e Garrett do mesmo modo… “Ah! Sim! Literatura eu também tenho”, replicou Eduardo; “mostrarei mais tarde.” E mais tarde, quando o caso parecia esquecido, Eduardo tomou à parte o homem de letras e, levando-o a uma alcova interior, mostrou-lhe vasta estante pejada de brochuras amarelas, quase todas francesas e mais ou menos indecentes, e disse: “eis aqui a vossa literatura!” Mas, não vos demorais muito, nem mesmo na biblioteca: Eduardo não deixa parar o seu hóspede; sai logo, acompanhado do seu fox-terrier, a percorrer os vastos terreiros de café, que se abrem mesmo em frente da casa grande e em direção à casa da máquina, ao fundo, perto de uma nesga de mato pertencente ao vizinho. Sobre a cumeeira o galo que indica a direção dos ventos treme de susto à aproximação de Eduardo: é um dos alvos da sua carabina, o mísero. No terreiro, antes de chegardes à casa da máquina, encontrais com espanto um canhão com a respectiva carreta; costuma salvar à chegada dos hóspedes ilustres e é um dos numerosos meios que tem Eduardo de pregar peças ao indígena. Depois vamos ao laboratório, um pavilhão construído especialmente para aquele fim, pois que Eduardo trouxe da Europa um sábio, Mr. Coulon, casado com uma russa, ambos fervorosos adeptos do que chamam a Santa Rússia; aí, nesse laboratório, Eduardo mexe em tudo e faz experiências de explosões para assustar-vos. O programa do dia é variado; há muito que fazer; mas esse programa, em que há sempre números novos, é a vida de Eduardo. Antes de receber-vos, ele já trabalhou três ou quatro horas na biblioteca, desde as seis da manhã, com interrupções. O seu trabalho é, assim, tão natural, tão fácil, tão alegre, tão vivo, que vós outros ficais entendendo que é antes um divertimento. E é este o grande mistério do temperamento de Eduardo para quem não o conheceu bem: diverte-se em toda a parte, de todos os modos: acomoda-se a todos os meios. É que em toda a parte da terra achava ele cousas que o interessassem – eis a simpatia irradiante e ativa, que Eça, no memorável estudo sobre Eduardo, chamou curiosidade, mas de que realmente a curiosidade não é senão uma das formas. Creio que foi Wordsworth, um dos biógrafos de Sir Walter Scott, quem contou que na vida daquele escritor magno poderia alguém negar fosse ele um poeta, mas ninguém diria que não era the best fellow, o mais jovial, o mais fino e chistoso anedotista da Grã-Bretanha. Tomava como regra falar a todos com quem casualmente andasse, fosse qual fosse a condição social desse companheiro do acaso. Ora, para escrever para o povo, é preciso ser do povo. “O que já esteve em livros, pode ser posto ainda num livro”, diz Bagehot; “mas, um caráter original, tirado de primeira mão da natureza, precisa de ser visto diretamente, para ser conhecido.” Esse modo de insinuar-se, tinha-o Eduardo muito expressivamente. Com a mesma facilidade com que entrava numa casa de caboclo, numa conversa de caipiras, entrava em Londres, no escritório do Times, ou de alguma agência telegráfica internacional, para bisbilhotar e, como se diz em linguagem familiar, arranjava logo meios de pôr-se de dentro. Enquanto lhe durava uma preocupação, a sua vontade era vivíssima, os seus recursos extraordinários, a sua invenção múltipla, para chegar ao desejado resultado. Por isso, era homem do momento e o seu principal instrumento de correspondência era o telegrama. Os empregados de uma das repartições do telégrafo em Londres já tiveram ocasião de espantar-se com alguns dos seus telegramas de cem e mais libras esterlinas. Passada uma preocupação, vinha outra, porque o seu espírito, sempre ativo, sempre cheio de movimento, estava sempre ocupado; mas, nos dias da segunda ou da terceira preocupação, a correspondência que chegasse sobre a anterior ficava retida na posta-restante, até ser inutilizada. Mais do que Boileau, ele tinha horror ao gênero ennuyeux; abominava as prisões de qualquer ordem, porque seu espírito era libérrimo; por isso mesmo Eduardo era a tortura dos que esperavam por ele. Se saía por dois dias, poderia demorar-se um mês, desde que alguma cousa o interessasse. Assim, partiu uma vez, por uma semana, de Paris para Londres; no fim de quinze dias não havia notícias do viajante: só mais tarde se soube que Eduardo estava em Montenegro, falando diariamente, nas ruas da pequenina Cettigne, com o príncipe Nikita! Apaixonada pelo movimento, gostava de máquinas, das cousas feitas de um jato; a sua cozinha e a sua copa tinham duas dúzias de máquinas diversas e um dos seus divertimentos era mostrá-las aos caipiras. Pescar é desporto de paciência. Mas Eduardo achou meio de abreviar a pesca, trazendo de Londres uma – como direi? uma bateria de anzóis de mil tamanhos, para mil variedades de peixes, com iscas prontas, linhas, pesos, etc. Assim partiu de uma feita para o sertão. Antegozava o prazer de abrir aquela bateria diante dos olhos assombrados dos caipiras. Chegou a hora e todos o rodearam. Ao tocar naquelas cousas tão bonitas, naqueles peixinhos de latão, de escamas muito brilhantes, nas minhocas de borracha, muito limpas e muito flexuosas, pensaram os caboclos que se tratasse de algum enfeite para dependurar ao pescoço. Mas quando Eduardo lhes assegurou que eram anzóis e iscas já prontas, para evitar trabalho de apanhá-las, um dos caboclos, mais idoso e mais grave, ponderou: “Quá, sô dotô, os nossos peixe de cá não pega nisso, não! eles são muito velhaco! quando nas iscas de devera eles custa, quanto mais nessas!” A larga campana de bronze japonês deu o primeiro sinal para o jantar. Já corremos as cercanias com o fazendeiro; já vimos as árvores que ele plantou, já vimos os melhoramentos que introduziu, as reformas que executou; testemunhamos com que cuidados trata ele das árvores enfermas; testemunhamos o seu amor pela terra, as plantas, o gado. Deixemos para outra vez o passeio ao mirante, a visita aos vizinhos, a excursão a algum ponto curioso. Penetrando de novo no jardim, lembramos, ao atravessar a rua de roseiras, o delicioso processo com que Eduardo afugenta das flores os insetos daninhos: banqueteia estes, para que não busquem alimento no cálix das rosas. Na cerca por onde se derramam as trepadeiras, estão dependurados vidrinhos cheios de melaço, de gargalos abertos para que os bichinhos entrem e saiam livremente: assim Eduardo defende as flores regalando os insetos. No salão iluminado, já nos aguarda a família. Eduardo vai vestir-se para jantar. É o momento da sua confabulação amistosa com o criado, que está a contar-lhe as proezas de um casal de bassets: criado e patrão riem-se a bom rir. O criado de Eduardo transforma-se com o tempo em mordomo. Mas, não é mais o Humphrys, aquele severo personagem doméstico que ele achou num clube de estrangeiros em Cingapura ou em Batávia. O Humphrys era a Ordem de olhos na testa e cara raspada; era a Previsão de pernas e braços; era a Disciplina em marcha. Razão teve Eduardo em esconder com todos os cuidados, durante certo período da nossa história, a correspondência com os jornais do Brasil, que lhe chegavam a Paris. A um íntimo, que o surpreendeu nessa operação, respondeu depressa Eduardo: “Tenho vergonha de Humphrys; não quero que ele saiba do que se passa agora no meu país, na terra do seu amo!” Penetramos no salão de jantar: há um brilho discreto espalhado nas paredes pintadas a óleo, de cores claras, e refletido no assoalho envernizado; a mesa, de que Eduardo achou tempo de aproximar-se por um momento uma hora antes, a fim de arranjar as flores, tem o mais encantador aspecto; do linho alvíssimo rompe o tom bravo das rosas vermelhas, bizarras faianças do Oriente fazem esgares nas caras truanescas, a velha e sólida prata portuguesa se ostenta gravemente de ponto em branco; diante de vós se equilibra, cercado de outros menores, um enorme e anafado copo de cristal, que vos diz em tom de mofa – mon verre est petit, mais je bois dans mon verre; a vosso lado vos belisca uma trêfega cumbuquinha amarela – é a pimenta do Peru; mais adiante uma conserva de Bombaim vos amedronta; atrás de vós duas engraçadas corujinhas de louça aumentam a luz da sala com seus olhinhos iluminados, muito vivos e muito brejeiros. Mas defronte, na parede nobre, um belo crucifixo de marfim, a cujos pés uma admirável andorinha de madeira pintada parece que adeja ainda a beijar a imagem de Cristo, impõe no ambiente um doce recolhimento; embaixo, rasgado em metal polido, o brasão do terceiro Antônio da Silva Prado, Barão de Iguara. O anfitrião discreteia, à luz branda das velas e do lustre, amortecida por lucivelos multicores; e vós jantais finamente, ao lado de Apolo convertido e purificado por Jesus Cristo, sentindo no homem o que Amiano viu no seu Imperador – venustate oculorum micantium flagrans, qui mentis ejus argutias indicabant – (Caetano Negri – L’Imperatore Giuliano, p. 391). Só pouco e pouco percebíeis que estáveis diante de um homem de sólida erudição e de clara sabedoria, porque Eduardo, escrevendo ou conversando, era de uma singeleza encantadora. Tinha verdadeiro horror ao artifício e à afetação; abominava o pedantismo. Um artigo de Pedro Lessa, nosso comum amigo, encerra o seguinte depoimento, ouvido do próprio Eduardo, a esse respeito: “Tenho receio, costumava ele dizer, de supor-me um dia uma capacidade. Esse fato marca sempre o início da decadência mental, a anquilose da inteligência. Não se tolera mais a contradição; torna-se impossível a investigação paciente, a observação perspicaz, o raciocínio seguro; não se enxergam os lados vários de uma questão complexa; o pensamento deixa de ser um instrumento dócil para a descoberta da verdade, porque acredita, sem exame, estar sempre na posse dela.” Sim! a sua ilustração vinha-lhe dos olhos com a naturalidade de um lampejo; desabrochava-se-lhe dos lábios a erudição com a frescura de um sorriso; o seu saber penetrava-nos mansamente, com a suavidade de um perfume. Nada dessas lições caídas do alto com o formalismo hierático de uma fímbria de púrpura que se dá a beijar, como honra e consolo, ao mísero neófito. Não! a sua ciência era fácil, era meiga, era simples e era forte, como devia ter sido aquela de que nos fala o autor de Les Jeunes Gens de Platon: transmitia-se a céu aberto, no repouso dos exercícios da arena, quando os braços, ainda trêmulos da impulsão aos discos, arqueavam-se graciosamente para segurar as pensativas cabeças, que se dobravam embevecidas, sonhadoras, às falas dos filósofos. Ah! ele compreendia que tudo quanto sabemos, todas as nossas ânsias, todas as nossas torturas perdem-se na paz augusta da natureza; ele compreendia que o homem no mundo é uma síntese do mundo que vale tanto quanto a mais modesta florinha rústica, que esmagamos no caminho: ele compreendeu que “a arte humana, para ser duradoura, não pode deixar de ser criada à imagem e à semelhança da natureza”; ele compreendeu que o que dela se salva na memória dos homens é a que teve raízes na vida universal. Por isso, ele que foi simples, creu; ele que foi bom, amou; ele que foi modesto, lamentava a dispersão da sua vida. Mas, não! a sua vida só foi dispersa porque irradiou; suas obras andam espalhadas aqui e além; artigos nos jornais acadêmicos de São Paulo, artigos do Correio Paulistano no seu tempo de estudante, Viagem ao Rio da Prata, Viagens, Viagem ao Oriente (inédito), Le Problème de l’Immigration, L’Art au Brésil, Fastos da Ditadura Militar, A Ilusão Americana, Conferência Anchietana, discursos do Instituto Histórico de São Paulo, Estudos sobre a Bandeira Nacional (inédito), Vida do Padre M. de Morais (inédito), Terra Roxa (perdido o manuscrito), centenas de artigos do O Comércio de São Paulo, entre as quais verdadeiras monografias sobre história, diplomacia, etc.; artigos da Revista Moderna, entre os quais o estudo sobre Eça de Queirós. Em tudo isso encontrais Eduardo com os seus contrastes, o seu sarcasmo, a sua vivacidade, a singular harmonia entre as cousas sérias e as cousas alegres, as cousas leves e as cousas profundas. *** Mas, Senhores, virei eu preencher a sua vaga? – pergunto-vos a vós, e pergunto-me a mim mesmo. Não: estou aqui interinamente… vim substituí-lo apenas durante uma das suas viagens longínquas, de que ele há de tornar. Ele não se partiu de nós. – Está longe agora, ou quem sabe se muito perto? Vai chegar? Foi decerto dar outra volta ao mundo; foi percorrer os sítios preferidos, as paisagens que seu gosto elegeu; chega a Heliópolis, junto ao obelisco, em cujos entalhes de hieróglifos fizeram as abelhas a sua morada; repousa perto dos sicômoros e das tamareiras de cachos floridos e alvos, que se agitam no azul empalidecido do crepúsculo; uns passos sutis na relva lhe chamam a atenção: é a mulher fellah, vestida de camisola azul aberta no seio, com os braços cor de bronze ornados de braceletes de prata; ei-la, na atitude de uma canéfora antiga (Viagens, p. 168), a dar as boas-vindas ao viajante. Welcome! Em todas as línguas do mundo onde quer que ele chegue, ouve as palavras de caroável acolhimento que ele mesmo estampou nas paredes do Brejão, a fim de fazer o hóspede sentir, já de longe e antes de ver o hospedeiro, o carinho de gasalhado. De Heliópolis em ruínas passa ele à sombra da velha mesquita, onde pôde ver, com olhos tão inteligentes, aquela escola árabe e aqueles professores a viverem no seio da sua civilização incompreendida, completamente estranhos à nossa presunçosa civilização européia, cujo sinal era apenas, à porta da mesquita, a marcha pesada de um regimento inglês. Ele voa para mais longe, para mais alto; átomo irmão, recolhe-se ao seio infinito da natureza que ele amou. Não tremerá mais, mísera abelha torturada, neste globo, entre estes homens, cuja glória nem pode atravessar os poucos quilômetros da camada atmosférica, que circunda o planeta, enquanto os outros mundos, harmônicos, misteriosos, silentes, continuam o seu passeio tranqüilo pelo espaço… Agora o seu espírito, que tinha a ânsia da liberdade, ganhou para sempre a liberdade e pode empreender longas viagens pela amplidão dos mundos; a sua curiosidade terá mil objetivos e não ficará mais circunscrita a seus companheiros de planeta… Por toda a parte a sua simpatia irradiante encontrará correspondência e por toda a parte ele poderá ler, na linguagem eterna dos seres imortais, o mesmo Welcome afetuoso que nós, peregrinos da terra, lemos na parede do Brejão.
RESPOSTA DO SR. OLAVO BILAC:
Não, meu ilustre Confrade! A Academia Brasileira não procurou apenas no autor de “Pedro Barqueiro” e do “Assombramento” uma “como reminiscência de Eduardo Prado”. Os que vos confiaram a posse da Cadeira patrocinada pelo nome do velho Rio Branco quiseram honrar-se, chamando para a sua companhia o escritor fundamente “nacional” que compôs os admiráveis contos de Pelo Sertão, e quiseram também afirmar o seu amor pelas tradições – esse culto que o vosso antecessor erradamente acreditou desaparecido da alma brasileira, e que também vós, com um susto que a placidez do estilo acadêmico mal disfarça, sem razão supondes estiolado, como uma planta melindrosa a que falta o carinho do horticultor. Os da Academia, já estamos todos longe da idade, em que o trato do machado do lenhador é mais agradável à mão do que o trato da esteva do arado. Os que ainda não temos quarenta anos já estamos perto desse marco da sisudez, que assinala a crise mais séria do espírito de um homem, – salvo naqueles espíritos excepcionais, não sei se felizes ou infelizes, que, quanto mais vivem, mais se comprazem em mofar da gravidade da vida, dando-lhe piparotes na caraça austera. Nesta companhia, podeis amar o passado sem receio. É esse um amor que só pode fazer bem, – quando não imobiliza a gente no empedramento da mulher de Lothe. As tradições, que tanto prezais, têm aqui dentro quem lhes renda o culto devido. E esperamos mostrar-vos que também lá fora não falta quem as ame. O vosso respeito do passado, – conhecem-no bem os que vos leram e lêem, no livro e no jornal, e conheço-o ainda melhor, eu, que o estudei e admirei, em saudoso período de intimidade: e é para mim um consolo e um orgulho o lembrar aqui o tempo amável e ocupado, trabalhoso e suave a um tempo, em que vivi convosco, há anos, no velho seio de Minas, perlustrando caminhos sepulcrais, restaurando idades perdidas, ressuscitando almas defuntas. Foi em Ouro Preto, na anciã Vila Rica. Tivemos ali meses de uma vida singular, intensamente vivida, cheia de completos prazeres intelectuais, – que só podem ser bem contados aqui, a uma assistência escolhida e culta como esta, capaz de compreender como dois homens em pleno viço da mocidade puderam passar semanas e semanas entre os vivos, não os vendo nem ouvindo, e só tendo ouvidos e olhos para um estranho mundo de sombras e de fantasmas. Bem vos deveis lembrar… Enquanto pelas ruas de Ouro Preto, naquele ano trágico de 1893, os vivos comentavam com calor os episódios da revolta naval, e os bombardeios, e as prisões, e as loucuras, – nós dois, mergulhados no passado, conversávamos com espectros. Toda a gente do século XVIII, – capitães-generais, ouvidores, milicianos de El-Rei, aventureiros, traficantes de pretos, frades e freiras, tiranos e peralvilhos, fidalgos brilhantes e pobres bateadores de ouro e cateadores de cascalho, garimpeiros, senhores e escravos, damas de casta orgulhosa e imundas pretas descalças, ricos proprietários e contrabandistas farroupilhas, – toda essa gente acudia ao chamado da nossa curiosidade, e, saltando das casas arruinadas do Padre Faria e de Antônio Dias, evadindo-se do mistério dos arquivos, repovoando as ruas cheias de escombros, vinha reviver conosco a sua antiga vida pitoresca. Logo cedo, pela íngreme Rua Direita, íamos ter à larga praça do Palácio. De um lado ficava a imensa Casa da Câmara, alto cubo salpicado de janelas, tipo acabado da arquitetura colonial, com os varões de ferro da cadeia embaixo, e, em cima, a torre severa abrigando o sino ancião, a antiga campana de rebate, que servia outrora para transmitir ao povo humilde, com a sua voz temida, a cólera ou a bênção, ambas paternais e pesadas, dos representantes de El-Rei. Do outro lado, o Palácio – um fortim, cuja presença causava espanto naquela praça tão calma, e a cujas seteiras, ameias e barbacãs o apuro da pintura nova não conseguia tirar o aspecto ferrenho e hostil. Era no rés-do-chão dessa fortaleza, remanescente da era colonial, que estava instalado o arquivo público de Minas: era ali o cemitério das idades mortas, o campo-santo das nossas origens. Esse arquivo tem hoje, graças justamente a esforços vossos, outra instalação, destinada a salvá-lo de uma ruína que teria de pesar na consciência dos modernos como o remorso de um grande crime; mas, naquele tempo, a tristeza e a ancianidade da instalação diziam bem com a ancianidade e a tristeza do depósito. Entrávamos, com respeito, abafando o pisar; e, assim que começávamos a folhear os grossos livros encapados em couro, uma poeira sutil começava a encher o imenso e triste salão. Foi ali que respirei largamente isso a que o mais desmoralizado dos chavões dá o nome de pó dos séculos… Era um pó que parecia sair do fundo de ossuários remexidos, um pó impalpável e invisível que era como o bafo úmido e tênue do respirar dos in-fólios comidos das traças. À medida que íamos virando as páginas, cobertas de uma escritura quase hieroglífica, miudinha e certa, retalhada de barras caprichosas, com fantasias de recorte nas maiúsculas e voltas faceiras nas vírgulas acaramujadas, as nossas impressões exteriorizavam-se; e, no pó finíssimo que pairava em torno de nós, percebíamos vagos cheiros indefinidos, que se casavam ou contrastavam, harmonizando-se, como as notas de uma concertina de aromas: havia o cheiro fresco dos vales, das montanhas, dos ribeirões de águas cantantes, de todo aquele seio de natureza virgem pesquisado pelas caravanas da conquista; o cheiro úmido de terra cavada, e das gupiaras cheias de gorgulho; o cheiro apagado e caricioso do incenso das sés e das sacristias; o cheiro da mandioca macerada com que as damas faziam brancos os cabelos… E, não raro, subia e dominava todos os outros um cheiro acre de sangue, uma exalação de mortualhas podres, de cadáveres de mineiros soterrados nas minas, de garimpeiros rebeldes esquartejados pela justiça, de pretos famintos e de reinóis insubordinados, corridos a pontaços de lança pelos dragões de El-Rei… Assim, no estudo dos tempos mortos, consumíamos as horas; e ou fulgurasse lá fora, em dias lindos, a luz do sol, ou, em dias de chuva, se emaranhassem no céu as cordas da água, a vida que nos preocupava não era a do povo que trabalhava ou vadiava nas ruas, mas a das gerações que se tinham ido da terra. Quando saíamos, os espectros saíam conosco, colavam os seus passos aos nossos, sentavam-se conosco à mesa do hotel, acompanhavam-nos nas peregrinações pelos arredores cobertos de ruinarias. Nunca me esquecerei de um cair de noite, que nos surpreendeu certa vez, fora de portas, na derrocada Rua da Água Limpa… Com o vir da sombra, um mistério indizível encheu a paisagem, e um calafrio de mudo terror e um sopro de além-túmulo sacudiram a natureza. As figueiras bravas cresciam desmedidamente e tomavam formas estranhas; as gameleiras bracejavam como avantesmas; havia gemidos no rolar dos calhaus que os nossos pés topavam. Uma lua imensa, imensa e redonda, pairou no céu escuro, como um broquel de prata pregado num muro negro, e espalhou a sua luz melancólica sobre a solidão. E, ao vosso lado, pisando aquela estrada que tantas gerações haviam pisado séculos atrás, ouvindo a vossa voz que me falava com trêmula ternura e vibrante paixão dessas vidas apagadas, compreendendo e amando o amor com que vos aferráveis à veneração dos povoadores da vossa terra, – eu tinha a ilusão de levar comigo, não um bacharel de 1893, mas um daqueles cavalheiros de 1720, que terçavam armas e galanteios na roda do Capitão-General D. Pedro de Almeida e Portugal. Quem ia comigo não éreis vós, mas um dos vossos antepassados da veneranda Paracatu, daqueles que também, como Dom João de Castro, viviam e morriam pola ley, polo rey e pola patria; e, ao clarão do luar, uma pluma ondeava sobre a pala do vosso chapéu; o vento brincava com os folhos da vossa camisa de rendas e sacudia as abas do vosso gibão de seda; e pelas pedras tinia arrastada e nervosa, suspensa do talabarte de veludo, a bainha do vosso espadim… Mais tarde, meu ilustre Confrade, quando, apurado o vosso talento, começastes a produzir, – reconheci que aquele amor das tradições não era um tic da adolescência, uma preocupação passageira do vosso espírito. No livro e no jornal, a vossa literatura, de que daqui a pouco tratarei, foi sempre um claro espelho em que se têm refletido esse “tradicionalismo” e esse “nacionalismo”, a que agora mesmo destes o nome um pouco vago de “americanismo”. Esta qualidade, quando mesmo não estivesse acompanhada da excelência da vossa obra literária, já bastaria para que a Academia Brasileira vos chamasse. Não foi, portanto, apenas “uma como reminiscência de Eduardo Prado” o que procuramos em vós. E nem compreendo que possa haver semelhança entre a vossa entrada triunfal nesta companhia e a entrada hesitante do estranho – cliente ou pedinte, – que vistes, em gravura, no átrio do palácio senhorial. Entrando aqui, entrais em casa que já era vossa; e, se alguma causa deveis estranhar, é somente que a companhia não tenha enviado ao vosso encontro mais digno introdutor. Se a Academia não tivesse a desventura de perder Eduardo Prado, viríeis preencher outra vaga qualquer; e não ficaríeis muito tempo lá fora: – nós, em tão minguados anos de vida coletiva, já temos perdido tantos companheiros, que parece haver nisso um dos divertimentos habituais da morte irônica, zombando do título de Imortais, com que nos condecora o bom humor das ruas… O que é preciso confessar é que, se já não existísseis para escrever o elogio de Eduardo Prado, seria preciso fazer o que Voltaire aconselhava, com irreverência, em caso de outra ordem: – seria preciso inventar-vos. Nós bem sabíamos que o estudo desse interessante homem de letras, tão discutido e tão pouco conhecido, só poderia ser feito por quem tivesse vivido de par com ele, na intimidade do lar e na agitação da vida pública. Para quase todo o país, o fino artista que havia em Eduardo Prado viveu e morreu sem relevo: o que a multidão sabia é que ele era um homem elegante e um panfletário político. Dois motivos de suspeição. Ter dinheiro e saber gozá-lo, correndo o mundo, estudando e comparando civilizações, fartando-se de arte, tendo trato familiar com gente ilustre, criando “interiores” de luxo, – são cousas que o comum dos homens (tão baixa é a natureza humana!) não perdoa facilmente aos privilegiados. O artista, que vive assim, dá sempre, ao juízo errôneo do público, a impressão de um dilettante, trabalhando por desfastio, escrevendo por luxo, pensando por brinco, – mais ou menos como os reis que se distraem do seu mister pintando aquarelas ou estudando sânscrito, e como as rainhas que descansam do enfaro da etiqueta arrepanhando sobre a cintura a cauda do manto, pondo sobre o vestido de brocado um avental de linho grosso, e indo, ao calor do fogão, fazer experiências de química culinária… Além disso, Eduardo Prado, que por longos anos, depois da publicação das suas admiráveis Viagens, se conservara afastado da agitação da publicidade, estudando ou gozando em paz, com sobriedade e bom gosto, na Europa, só voltou à atividade literária e política em uma época de febre intensa, durante uma dessas crises em que há rufos de febre em todos os pulsos e estos de paixão em todas as almas, e em que parece desaparecer a linha que separa o acampamento regular da sensatez do abarracamento confuso da loucura. Eram raros, então, os que podiam concordar com o violento escritor dos Fastos da Ditadura Militar no Brasil; e eram mais raros ainda os que podiam, sem concordar com ele, ter a calma precisa para reconhecer a sinceridade da sua intervenção e desculpar a aspereza dos seus ataques. Por isso, essa intervenção foi irritante. E, mal compreendido em suas opiniões, mal julgado em seus atos, e absolutamente desconhecido no seu papel encantador de fino homem de letras, Eduardo Prado ficou sendo, para os energúmenos e para os superficiais, um moço rico e chic, monarquista por espírito de contradição, católico por elegância e motejador por índole. Essas injustiças são freqüentes: se fosse possível converter em areia palpável todos os erros do critério humano, essa areia bastaria para aterrar todos os mares que cobrem a face do planeta e para elevar-se em desmarcadas montanhas, que cresceriam no espaço perturbando as leis eternas do equilíbrio universal… Veremos depois que o escritor d’A Ilusão Americana exagerou bastante os perigos do que ele chamava e do que vós mesmo chamais a nossa “desnacionalização”. Mas todos os que lhe prezavam o talento e o caráter devem agradecer-vos desde já a clara energia com que o defendestes da balda de mau brasileiro. Tive e tenho para mim que Eduardo Prado foi sempre um firme, um puro e excelente brasileiro, no Brasil e na Europa, no sertão e no boulevard. Conheci-o em Paris, nessa falada garçonnière da Rua Casimir Périer, pequeno domínio em que imperava a tirania do severo Humphrys, – esse famoso mordomo que, com certeza, nos seus mais ambiciosos sonhos de glória, nunca imaginou que o seu nome ainda viesse a soar em cenáculos de imortais. Cousas da vida! se há príncipes cuja popularidade acaba em casas de jogo, também há de haver criados de quarto cuja rama chegue até às Academias… Quantos brasileiros ilustres passavam por aquela casa! Havia o segundo Rio Branco; havia o fogoso Silveira Martins; havia Domício da Gama; e havia (para não alargar demais o surto das recordações) esses dois ilustres velhos, Ferreira Viana e Lafayette, que não são da Academia (ai da Academia!) e de quem, traduzindo mal um bom verso, posso dizer que “se nada falta à sua glória, eles fazem falta à nossa”… Em noites de recepção, os brasileiros – e é preciso notar que Eduardo escolhia com escrúpulo os seus íntimos – enchiam o salão, a biblioteca, a sala de jantar e até a sala de banho e a copa. Havia um aposento agraciado com o título de sala de fumar. Mas a dignidade era apenas honorária: nessas noites fumava-se em todas as salas. Fumava-se e falava-se. Fumarada e falatório nunca hão de faltar onde houver brasileiros… Às vezes – era janeiro e a neve caía lá fora – a acumulação da gente, a febre das conversas, o ardor das disputas e o fumo dos cigarros transformavam a casa numa gruta-do-cão, de ar irrespirável; a coluna de azougue do termômetro, espantada, punha-se a subir vertiginosamente a escadaria centígrada, parando exausta no patamar tropical. O castelão corria a abrir as janelas; e só quando via as calçadas da rua e as fachadas dos outros prédios cobertos de neve, é que eu me lembrava de que estava tão longe da Pátria… Ali vivia o Brasil, às vezes acerbamente julgado, mas sempre infinitamente amado. Deixai lá! também a pancada pode ser demonstração de amor, e demonstração agradável, porque, como diz o nosso bom povo, pancada de amor não dói… Até quando erra, o amor é o amor. Claro está que ninguém poderia melhor do que vós, meu prezado Confrade, vir dizer à Academia e ao Brasil quem foi Eduardo Prado. Nos últimos tempos, combatestes juntos, na imprensa, o combate que julgáveis bom. As vossas penas brilharam juntas nas colunas do Comércio de São Paulo, – e até os que, como eu, repeliam as vossas conclusões, esses mesmos admiravam o talento, a graça e sobretudo a sinceridade com que lutáveis ombro a ombro, como hoplitas de uma mesma falange. Além disso, como acabais de mostrar, tínheis sondado bem fundo a alma do vosso correligionário, estudando-o na vida íntima, na franqueza da existência rural, na sua simplicidade de homem bom, amigo das plantas inocentes, dos insetos, das aves e das gentes rudes. As belas páginas, cuja comoção acabais de comunicar a quantos aqui vos ouviram, vão ser o início da glória do vosso antecessor. E a Academia, cujo fim principal, – talvez um pouco presunçoso, mas em todo caso nobre, – é ir estabelecendo, através das idades, pouco a pouco, várias cadeias de espíritos, revivendo uns nos outros e perpetuando a uniformidade dos ideais brasileiros, – a Academia vê com orgulho que por Afonso Arinos foi bem compreendido e amado aquele que tão bem compreendera e amara o Visconde do Rio Branco. Agora, antes de vos dizer todo o bem que penso do que nos tendes dado como romancista e cronista, permitireis, meu caro companheiro, que eu vos declare não achar bem fundado o receio tantas vezes manifestado pelo vosso antecessor e por vós, de que a atrapalhação das nossas cousas políticas possa trazer a desnacionalização da nossa gente. Não quero saber, devo dizê-lo já, quais sejam precisamente as vossas opiniões em política. Em primeiro lugar, isso pouco importa à Academia, à qual, como ao Paraíso e ao Inferno, por diversos caminhos se pode igualmente chegar. Há aqui lugar para todos os credos: e sob esta cúpula… de empréstimo, que devemos à gentileza fraternal do Gabinete Português de Leitura, ortodoxos e heterodoxos podem trocar o beijo da paz. Depois, não vejo bem que haja, para qualquer de nós, a necessidade de opiniões políticas; isso é uma bagagem pesada demais para quem se quer elevar às serenas regiões da Arte; e o alpinista, que deseja chegar ao cume do Monte Branco, contenta-se com um alpenstock e um pedaço de corda, sem se sobrecarregar com o fardo inútil de uma caixa de bufarinheiro. E há ainda a considerar que espero estaremos de acordo sobre o que vou dizer… Mas, se houver desacordo, o mal não será grande; já um santo Padre da Igreja, num momento em que a sua santidade cochilou, disse que até no céu há por vezes desavenças entre os anjos; e esta nossa tristíssima terra, meu caro amigo, no dia em que todos os homens se pusessem a pensar do mesmo modo, ficaria de uma insipidez intolerável. Vós mesmo reconheceis a falibilidade das previsões humanas. Nós todos, quando queremos marcar um roteiro certo à marcha dos homens e das cousas, arriscamo-nos ao erro daquele Sébastien Mercier, que, em 1770, escrevendo, com o título de O Ano 2240, um grosso livro em que previa e traçava com uma segurança imperturbável o progresso da humanidade, nem sequer suspeitou a possibilidade da revolução que, daí a 19 anos, tinha de abalar a França… Esses enganos são comuns: não é tão fantasista, como parece, aquele apólogo do sábio que, por ter os olhos pregados na Via Láctea longínqua, caiu no poço que tinha tão perto dos pés. O que mais aterrava o espírito patriótico de Eduardo Prado era o espetáculo da intolerância política que encheu os primeiros anos da República. Naquelas arruaças, naquele ódio ao estrangeiro, naquele confuso gritar de gargantas, que nem sabiam o que queriam dizer, viu ele o anúncio temeroso de um naufrágio nacional. Susto vão e vão temor. As nossas trovoadas de estio, que são as mais bulhentas, são também as que mais depressa se desfazem. Aquele tumultuar de paixões indefinidas acabou logo. Também alguma vez se há de permitir que os loucos tenham um dia de desafogo, e saiam pelas ruas a desabafar o seu entusiasmo. Se essas evasões dos hospícios, tão freqüentes em todas as partes do mundo, pudessem exercer uma influência eficaz e demorada sobre o destino dos povos, não haveria um só povo organizado; todo o planeta, desde a fita abrasada do equador até a zona gelada dos pólos, seria um imenso manicômio, e já não haveria motivo para que o Brasil se envergonhasse de não ter juízo, num concerto vesânico de tal extensão. Mas não creio que Eduardo Prado atribuísse tanta importância a tais desatinos. O pudor com que ele evitava que o seu criado (aqui temos de novo o famoso Humphrys!) lesse os jornais do Brasil e viesse a ter ciência das vergonhas que se passavam na pátria do amo, era um gracejo pueril. O criado, por não contrariar a indignação do amo, não deixaria talvez de verberar, com alguns grunhidos de censura, a facilidade com que apeamos do trono o venerando Sr. D. Pedro II; mas, no íntimo, estaria pensando mais na sábia composição do menu daquele dia do que na desventura do Monarca brasileiro. Os criados da Europa têm visto tanta cousa! Todos eles, ou todos os seus pais e avós, leram o Contrato Social… Há poucos dias, quando, em certo país da Europa, uma nova dinastia rebentou da sangueira de uma tragédia regicida, as velhas nações monárquicas não malsinaram em voz alta a origem pouco limpa daquela florescência dinástica. Se a tivessem malsinado, o novo rei poderia, como já foi lembrado, dizer aos outros: “Atire-me a primeira pedra aquele de vós que tiver o trono limpo de todo o sangue criminosamente derramado!…” Entre essa maneira, realmente expedita, mas bem pouco bela, de substituir um rei por outro, e a forma, igualmente sumária, mas pacata, pela qual substituímos um Imperador por um Presidente da República, suponho que há muitas léguas de distância moral… Não creio que haja regimens bons ou maus para a formação e a fixação do caráter e da grandeza de um povo. E não sei como possamos ainda agora, – homens de um século que há de ver a vitória do socialismo, – dar um sentido preciso a qualquer destes vocábulos: – monarquia ou república. A aspiração política da humanidade de hoje não cabe dentro de um círculo partidário; e o pensamento humano, cansado de controvérsias fúteis, sonha um progresso definido e claro, que os velhos rótulos dos partidos não exprimem. A República não podia destruir o que não estava feito. A verdade é que as boas ou as más palavras dos agitadores, as boas ou más ações dos que governam com preocupações de partidos, têm uma influência quase nula sobre a sorte dos povos. E, em geral, todos os grandes reformadores tornariam a morrer de espanto, se, tendo ressuscitado, pudessem ver os frutos das idéias que semearam. Realmente, quem apenas considera o litoral do Brasil, esquecendo o resto, pode sentir o medo de uma dispersão da nacionalidade. Alguns pontos do litoral ainda são o que eram no tempo da Monarquia: – sede de acampamentos comerciais, onde o desejo de enriquecer é instigado pelo desejo de ir gozar lá fora a riqueza acumulada. Mas, para lá desta faixa de praias, na zona imensa que o trabalho anima, no sertão que vai transformando os hóspedes em filhos, – a nacionalidade cria raízes tão fundas e tão fortes, que o seu extermínio só pode ser feito com o extermínio da própria terra. A terra tem encantos e proveitos que seduzem, e esses encantos e proveitos fazem mais do que as nossas teorias. O trabalho, a família, a beleza do céu, a fartura do solo mudam os indiferentes em amantes. As raças estranhas vão sendo absorvidas, como as águas das chuvas que regam os campos; e a raça futura (se é possível, ainda em ilações tão claras como esta, adiantar alguma cousa sobre o futuro) será uma raça fortemente brasileira, conservando a doce e amada língua que tratamos. Porque vós mesmo o dissestes há pouco: Eduardo Prado, com todos os seus terrores da desnacionalização, passou os últimos dias de vida entre colonos que já esquecem o falar e os costumes da pátria, pelo falar e pelos costumes paulistas… Quanto ao perigo de conquistas, vindo de nações fortes e cobiçosas, parece-me, quando muito, uma ameaça fantasista, como a dos lobisomens e papões com que se amedrontam as almas das crianças mal comportadas. O Brasil está longe de ser a China da América. E, se uma dessas aventuras, cuja possibilidade não nego em absoluto, pudesse ter uma escassa probabilidade de passageiro êxito, – essa mesma energia nacional, que se está concentrando e apurando no interior do Brasil, zombaria do atrevimento do invasor. O povoamento do Brasil fez-se da periferia para o centro: a sua nacionalização faz-se do centro para a periferia. As raças fortes começam a conquistar-nos pelo trabalho e pelo amor; e já estão começando a ser conquistadas por esse mesmo amor e por esse mesmo trabalho. No dia da afronta, o sangue seria um só, e uma só havia de ser a resistência. Não nos alarmemos com fantasmas; já não estamos na idade em que o amor do trabalho e o cumprimento do dever só se estimulam com o medo do castigo ou com a promessa da recompensa. Duvidar de si mesmo já é para um homem a metade da derrota; para um povo é a queda completa. Felizmente, o “pessimismo” é quase sempre uma doença apenas literária. Dizer mal da pátria não é desprezá-la: é fazer literatura à custa dela. Graças à elevação do vosso espírito, e à saúde moral que sempre tivestes, – essa triste doença não vos atacou jamais, meu caro Confrade; – e se em vosso trabalho de jornalista tem havido algum susto ou desalento, em vosso trabalho de artista das letras só tem havido confiança e coragem. A prova mais bela e forte de que a nossa nacionalidade não corre perigo, temo-la vivendo e brilhando em vós, em vosso claro engenho, em vossos livros de um tão puro nacionalismo. E não quero falar daquilo que, saído de vossa pena, anda espalhado por jornais e revistas, nem dos dois romances “brasileiros”, que, como artista exato que sois, ainda conservais no tear sujeitos ao paciente lavor e à pertinaz polidura que fazem as obras perfeitas. Bastame o lindo volume de histórias e paisagens do sertão, com que estreastes. Já disse que a vossa literatura é um espelho em que se reflete o vosso tradicionalismo. Mas não é só isso o que se traslada no cristal brilhante. Há em vossa literatura, ao lado de muita saudade, muita esperança: larga ponte, batida de sol, lançada entre o passado e o futuro. O amor do passado vibra às vezes no assunto e palpita sempre no estilo. Este é sempre puro e antigo, temperado pela suavidade que a língua dos nossos maiores adquiriu ao passar da velha para a nova pátria. Não sois dos que pensam que o progresso do idioma deva ser feito à custa da sua pureza primitiva. Passando da garganta do pardal para a garganta do sabiá, era justo que a escala musical se abrandasse, adquirindo o quebro langoroso que lhe veio redobrar o encanto. Mas nem todos os sabiás se têm contentado com esse acréscimo de meiguice e graça. Infelizmente, muitos sabiás conhecemos nós, que, quando se põem a cantar na copa das velhas palmeiras de Gonçalves Dias, mostram possuir na garganta mais solecismos do que gorjeios… Vós, não. A língua que trabalhais não veio até vós, recebendo enxurradas em desvãos de matas suspeitas; veio de longe, sim, mas por frescos e limpos álveos, aceitando afluências de águas transparentes, enriquecendo-se com o tributo de mananciais bem batidos, e guardando a clareza e a simplicidade nativas. É velha e viajada, mas legítima: e por isso mesmo preciosa, como os vinhos velhos e os velhos livros. Quando falam os vossos heróis do sertão não falam como puristas: usam a sua linguagem pitoresca e ingênua, cheia de barbarismos sempre coloridos e expressivos. E foi justo que lhes não désseis esse falar alambicado, meio selvagem e meio coimbrão, que os romancistas da geração passada punham na boca dos seus índios de opereta, sempre apaixonados por meninas do reino, e fazendo-lhes declarações de amor em que havia, misturados, urros de onça e suspiros de bonifrate. Mas, quando leio os diálogos dos vossos heróis, ou as suas narrativas tecidas de expressões que fulminariam de puro espanto o velho Rodrigues Lobo, – cuido sempre ver, ao lado, o leve sorriso indulgente do escritor castiço, que sois, anotando e saboreando a novidade daquele dizer errado e gracioso… Nos assuntos, o vosso respeito do passado sugere às vezes ao vosso estilo trechos de uma ternura infinita. Ides por uma rua solitária de cidade em ruínas. Encontrais uma casa humilde. Entrais. Aparece-vos uma velha mulher e aqui está como a descreveis: Um leve ruído faz-me voltar o rosto e ver, então, emoldurada pelas ombreiras da porta, ao fundo, uma estranha figura de mulher, vestida de algodão muito branco, com o torso pendido a uma dor intensa, sopitada a custo, e a fisionomia cansada, emurchecida, repuxada de rugas, onde mal se adivinham os olhos sem brilho, quase inexpressivos, a não ser um quê muito fugaz de carinho, que neles boiava ainda como uma flor desprendida da haste e já quase fenecida, flutuando na superfície de um lago dormente. Quando vos separais desse destroço de uma outra idade, resumis assim a vossa compaixão enternecida: Que página sentida escrevestes, ó intérpretes do coração humano, que doa mais do que a só vista desse pergaminho mudo, engelhado no rosto da velhinha! Essa dor infinda e resignada, essa dor desamparada e humilde naquele despojo humano, é mais dolorosa do que a do mito imortal de Prometeu… Mas não amais a velhice apenas nas criaturas humanas: também a amais nas cousas, que envelhecem mais devagar do que a gente, e ficam por mais tempo expostas à irrisão ou à indiferença dos incompassivos. Vós o dizeis: O encontro de algum objeto antigo tem sempre para mim alguma cousa de delicado e comovente… Móveis ou telas, papéis ou vestuários, – na sua fisionomia esmaecida, no seu todo de dó, – eles me falam ao sentimento como uma música longínqua e maviosa, em que se contam longas histórias de amor… Diante de um velho cravo, “primoroso na fábrica, incrustado de bronze e ornado de lavores de talha na madeira negra”, ficais a mirá-lo com amor, perguntando: Que lânguida açafata ou melindrosa sinhá-moça, cravo centenário, esflorou o marfim do teu teclado, desfiando o ritmo grave de uma dança solarenga, ou, a furto, a denguice feiticeira de um fado vilão? E, logo depois, diante de uma cadeira bichada e desconjuntada, vista num fundo lôbrego de sacristia, escreveis: Morre, desaparece que talvez – por que não? – a tua dona mais gentil, aquela para quem tuas alcatifas tinham mais delicada carícia ao receber-lhe o corpinho mimoso, aquela que recendia um perfume longínquo de roseira de Chiraz, talvez te conduza para alguma região ideal, dourada e fugidia, inacessível aos homens… Desaparece, aniquila-te, ou foge, cadeirinha! Lá, naquela mansão bem-aventurada, pegarão teus varais, não lacaios de libré, mas alvos mancebos de vestes brilhantes e olhar atrevido. Esses conduzirão através de nuvens a criatura feiticeira que encantou o seu tempo e que deixou impressa no tabuado de teu fundo, ó cadeirinha de outras eras, como uma carícia eterna, a lembrança do contato de um pé taful, calçadinho de cetim. Ora, aqui está o meu companheiro de pesquisas nos arquivos de Vila Rica – aquele esbelto mancebo, em quem uma vez, num sonho fugaz, ao cabo de um passeio pela Rua da Água Limpa, julguei ver um fidalgo reinol, dos que dançavam o minuete na corte do Conde de Assumar… Mas, ao lado dessas velharias animadas e inanimadas, o vosso livro canta belamente as novas gentes e os novos costumes que animam o sertão. Um poeta, amigo das árvores como todos os poetas, disse um dia que, quando encostava o ouvido ao grosso córtex de um tronco da mata, ouvia lá dentro as loas harmoniosas da seiva, na sua circulação criadora e triunfal. Eu também, quando folheio o volume em que celebrais a vida sertaneja, ouço circular por ele, em hinos ardentes, a profecia de uma grandeza futura para a terra que tanto amais, – para a terra que tanto amamos. Com que entusiasmo, com que admiração comovida, com que energia de pincel, com que colorido intenso de estilo, contais a nobreza de alma, a coragem heróica, os amores brandos ou impetuosos, os fogosos ciúmes, a abnegação rara, a paciente resignação, e também as grandes cóleras desses homens fortes e simples, que vivem para amar a vida e o trabalho, a natureza e a liberdade, a terra e o céu, na independência do seu orgulho, sob a proteção de Deus… e da faca que trazem à cinta! Estas poucas novelas, que enfeixastes em livro, são os Fastos da Alma Sertaneja… Aqui temos o cuiabano Manuel Alves, arrieiro atrevido, farto de afrontar homens e feras, afrontando as almas penadas de uma tapera malassombrada, e enlouquecendo de angústia por ter contado demais com a energia de uma alma educada em superstições; aqui temos a linda Esteireira, “a flor do sertão”, de colo de nhambu e carnadura cheia de viço, – que se desgraça pelos zelos, apunhalando a rival, sugando-lhe o sangue como um morcego, e indo morrer ao lado do noivo, em luta épica com os soldados da escolta, como uma canela-ruiva acuada; eis agora o campeiro Manuel Lúcio, moço bravo e apaixonado, malferido de amor ingrato pela filha de um guarda-mor das minas, e deixando-se morrer de desengano e de desespero, sem frases, em um sacrifício que mal disfarça o suicídio; e, agora, Joaquim Mironga, a Dedicação feita homem, de cujos lábios, num estilo que é a um tempo música e pintura, gravura e palavra, cai a narração de um episódio das lutas políticas de 40, entre imperiais e liberais; e, enfim, o Flor, franzino e lépido, filho da mata, todo nervos e viço, domando pela coragem o facínora Pedro Barqueiro… E as vossas paisagens! que calor, que perfume selvagem, que eterna vibração de vida sabeis comunicar às palavras, quando nos falais das serras que como bom sertanejo galgastes, das matas que vistes, dos rios largos e dos vales frescos em que os vossos olhares namorados pasceram desde a meninice! Ah! quem pode duvidar da força de uma nação qualquer, meu ilustre companheiro, quando essa nação tem gentes fortes como essas, e uma arte como a vossa para celebrá-la?! A existência de uma literatura como a vossa – littérature de terroir, como se diz expressivamente em França, – já é uma demonstração de força nacional, ativa e própria. Há, em Pelo Sertão, uma página encantadora, em que glorificais um velho buriti, “venerável epônimo dos campos”, mais idoso do que a nossa raça, perdido no meio de uma planície verde. É assim que lhe falais com ternura e admiração: Se algum dia a civilização ganhar essa paragem longínqua, talvez uma grande cidade se levante na campina extensa que te serve de soco, velho Buriti Perdido. Então, como os hoplitas atenienses cativos em Siracusa, que conquistaram a liberdade enternecendo os duros senhores à narração das próprias desgraças nos versos sublimes de Eurípides, tu impedirás, poeta dos desertos, a própria destruição, comprando teu direito à vida com a poesia selvagem e dolorida que sabes tão bem comunicar. Então, talvez, uma alma amante das lendas primevas, uma alma que tenhas movido ao amor e à poesia, não permitindo a tua destruição, fará com que figures em larga praça, como um monumento às gerações extintas, uma página sempre aberta de um poema que não foi escrito, mas que referve na mente de cada um dos filhos desta terra. Com essa página vossa, quero fechar o discurso de boas-vindas, com que vos recebo em nome desta companhia. Sim! a civilização há de ganhar a paragem longínqua em que vistes, solitário e soberano, esse buriti selvagem; mas não será levada por senhores duros, cujo coração careça de ser enternecido pelas queixas da terra conquistada. O vosso velho buriti viverá, não tolerado, e sim respeitado e amado; mas viverá menos do que o gênio da nossa nacionalidade, que, como ele, há de assistir a todo o ciclo do drama da conquista, dominando-o e dirigindo-o. Esta esperança – e, mais do que esperança, certeza – da glória e da grandeza da nossa nacionalidade, é o sentimento que a todos nos anima, nesta casa que vindes honrar. Aqui as almas se congregam para prezar o passado e para esperar com confiança o futuro. O vosso lugar estava marcado; e sobre ele paira a recordação dos dois espíritos, cujo fulgor tão belamente nos fizestes sentir e compreender há pouco. A herança caiu em dignas mãos. Sede bem-vindo.

