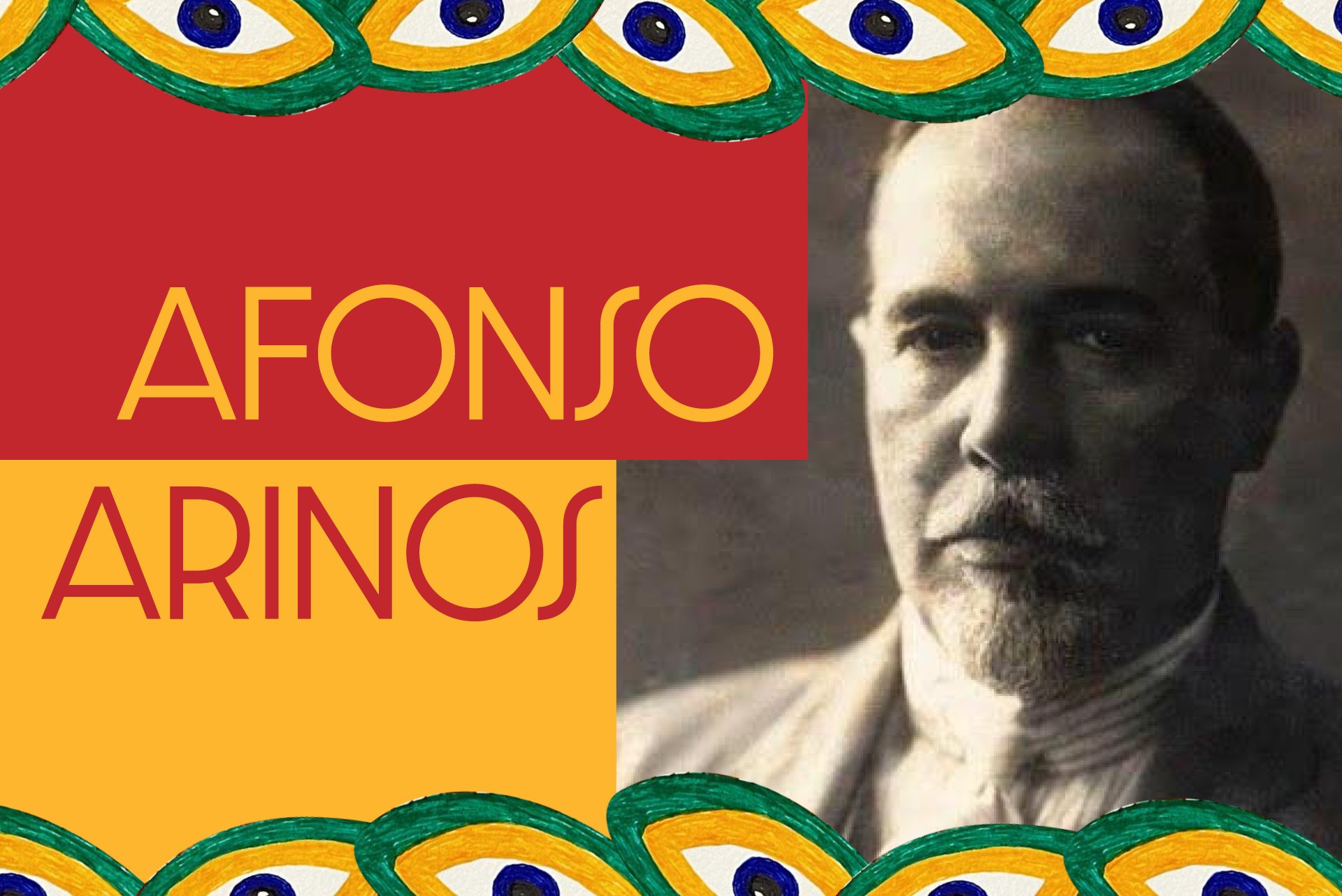
Poucos conhecem a verdadeira história e a importância de Afonso Arinos na literatura e vida brasileira. Neste ensaio, a professora Helen Ulhoa Pimentel traça um desenho da sua grandeza e destaque. Afonso Borges
SERTÃO, NACIONALIDADE E VANGUARDA NO ATIVISMO DE AFONSO ARINOS
Helen Ulhôa Pimentel
“Quem terá sido esse escritor, cujo modesto perfil tangencia o percurso de três monstros sagrados de nossa literatura, como Euclydes da Cunha, Mário de Andrade e Guimarães Rosa?” Perguntava-se Walnice Nogueira Galvão no artigo publicado pela Folha de S. Paulo, em 25 de setembro de 2005. Ela se refere a “Afonso Arinos [que], eclipsado no seu tempo, revela-se um precursor de ‘fundadores’ da literatura nacional, como Euclydes da Cunha e Guimarães Rosa, ao valorizar a linguagem popular e inovar a prosa no Brasil” (Galvão, 2005). Um passeio pela biografia de Afonso Arinos, pelas suas obras e pelas críticas literárias nos ajuda a entender a que ela se refere e quão complexos são os caminhos da consagração de alguns e do esquecimento de outros.
Nascido no sertão mineiro, na cidade de Paracatu, em 1868, e falecido em Barcelona, em 1916, formado em Direito, interessado em História, dono de uma cultura vasta, monarquista convicto, carismático, requintado, apaixonado pela cultura sertaneja, nacionalista, tornou-se exímio escritor e reconhecido orador. Obteve projeção no início da República, a partir de relações que construiu com intelectuais exilados do Rio de Janeiro, em decorrência do Estado de Sítio decretado em função da Revolta da Armada em 1893, que justificou perseguições políticas. Muitos dos intelectuais da época buscaram abrigo no interior do País. Ouro Preto, então capital da Província de Minas Gerais, foi o destino de alguns. Afonso Arinos, já residente na cidade, fez de sua casa um ponto de encontro e um local de longas discussões políticas e culturais. Conviveram ali Diogo de Vasconcelos, Aurélio Pires, Sabino Barroso, Olavo Bilac, Coelho Neto, dentre outros. Nesses encontros, Arinos, ainda muito jovem, contava histórias do sertão e encantava seus ouvintes. De acordo com Alexandre Lazzari, ao fim do Estado de Sítio, com a volta dos intelectuais para o Rio, as portas de jornais e revistas da capital do País foram abertas ao nosso escritor (Lazzari, 2008, p. 2).
Sua literatura começou a ser produzida ainda na juventude, enquanto estudante de Direito em São Paulo, e publicada em jornais e periódicos. Mais tarde, esse material foi reunido e publicado com o título Pelo sertão. Essa é a obra mais conhecida de Afonso Arinos. Ele escreveu: Pelo sertão – contos (1898); Os jagunços – romance (1898); Notas do dia (1900); O contratador de diamantes – drama (póstumo, 1917); A unidade da Pátria (póstumo, 1917); Lendas e tradições brasileiras (póstumo, 1917); O mestre de campo – drama (póstumo, 1918); Histórias e paisagens (póstumo, 1921); Ouro, ouro (inacabado); e foi figura ativa no cenário cultural brasileiro de fins do século XIX e início do XX.
Galvão (2005) ressalta que Arinos perseguia uma técnica que lhe permitisse colocar o discurso na boca de seus sertanejos, sem recorrer aos grifos e itálicos de costume, resultando em textos mais fluidos e naturais. Essa teria sido uma contribuição importante para abrir caminhos a outras narrativas posteriores. Ricardo Souza de Carvalho vislumbra em Pelo sertão o bilhete de entrada de Arinos na cobiçada sociedade letrada do Rio de Janeiro, descrevendo o encantamento que suas narrativas provocavam nos leitores mais exigentes. Ele aponta inicialmente que
[…] vem do foco narrativo a primeira ‘novidade’ do texto de Arinos: quem nos conta a história não é mais um narrador em 3ª pessoa que em alguns momentos defere a fala ao inculto sertanejo, devidamente separada por aspas do discurso desse mesmo narrador culto; é o próprio sertanejo que toma as rédeas do que conta, embora todo o conto ‘Pedro Barqueiro’ venha sinalizado entre aspas, conferidas pelo ‘patrãozinho’. Assim, o processo não chega a ser totalmente subvertido, mas se mostra uma experiência mais ousada em relação ao que vinha se fazendo, primeiro passo em rumo ao que Guimarães Rosa faria em Grande sertão: veredas, no qual o ex-jagunço Riobaldo conta sua vida para um ‘doutor’ que vem de fora.
Dessa maneira, a fala-conto de Flor [no conto Pedro Barqueiro] é uma tentativa de recriação da fala do homem do sertão. Se por um lado existe a preocupação em não infringir as regras do português mais castiço, num momento em que isso era quase uma obsessão – lembremos que, nesse mesmo número em que aparece ‘Pedro Barqueiro’, temos os ‘Estudos de lingüística I – Os verbos sem sujeito’, de Said Ali – por outro, Arinos revela frestas por onde possam passar as vozes por ele ouvidas nas veredas do grande sertão. Assim é que ele insere uma canção popular, com seus ‘erros’ devidamente diferenciados em itálico:
Na mata de Josué
Ouvi o mutum gemê
Ele geme assim:
Ai-rê-uê, hum! airê! (Carvalho, 2008a, p. 7)
Carvalho continua falando das inovações introduzidas por Arinos, mostrando o uso de vocábulos desconhecidos pelo leitor da cidade, prática que foi adotada também por Rosa, que também não se deteve em prestar esclarecimentos sobre os significados.
Aqui e ali pontuam estranhos vocábulos desconhecidos pelo leitor da cidade, que tanto na Revista Brasileira, quanto na edição de Pelo sertão, não contam com nenhuma espécie de glossário. Ainda que o contexto possa indicar um possível significado, intrigam: ‘Olhem a faca aí na sala, se vocês não têm caxerenguengue’ (Arinos, 1968, p. 118). Buscando no valioso trabalho de Nilce Sant’Anna Martins, O léxico de Guimarães Rosa, vemos que o autor de Sagarana também se valeu do mesmo vocábulo: ‘Foi o tempo de meu compadre Silvério destorcer da caxerenguengue e pular fora do jirau (…)’, cujo significado é de ‘Faca velha e imprestável; cheia de dentes, rombuda’; ‘Significante expressivo pelos fonemas repetidos; depreciação do referente’ (Martins, 2001, p. 109). Várias outras palavras empregadas por Arinos podem ser encontradas nesse dicionário de Martins, que não incluiu o autor de Os jagunços entre as ‘Obras citadas em abonações complementares’ (Carvalho, 2008a, p. 8)
Carvalho aponta também que
Para além do léxico, frente à sensibilidade do leitor cultivado por Guimarães Rosa, aparecem certas frases feitas do sertanejo, com suas rupturas morfológicas e sintáticas, que acabam adquirindo poeticidade: ‘Vivia seu quieto, em seu canto’ (Arinos, 1968, p. 115); ‘Um homem é para outro’ (Arinos, 1968, p. 116). Mas para os leitores da Revista Brasileira poderiam causar estranheza. (Carvalho, 2008a, p. 8)
Como se não bastasse, Carvalho continua:
Contudo, as ousadias de Arinos na sala de visitas dos letrados da Capital Federal não paravam por aí. Apenas sete anos após a Abolição da escravatura, em que os negros marginalizados não condiziam com a imagem da República progressista, o Pedro Barqueiro do título aparece como um ‘crioulo retinto’. Não custa lembrar que a figura do negro, a não ser a poesia abolicionista de Castro Alves e exemplos isolados, havia sido soterrada na literatura brasileira do século XIX. E, além de tudo, considerando as ideias evolucionistas compartilhadas pela intelectualidade brasileira que decretavam o negro como ‘raça inferior’, destaca-se ainda mais o protagonista do conto de Arinos, pois abria espaço para a representação de culturas e de etnias até então ignoradas nas letras nacionais. (Carvalho, 2008a, pp. 8-9)
O conto versa sobre um negro fugitivo, cuja valentia e altivez afrontavam o patrão de Flor, que “não gostava de ver negro, nem mulato de proa. Queria que lhe tirassem o chapéu e tomassem benção” (Arinos, 1968, p. 115). Flor foi encarregado, junto de outros vaqueiros de “dar conta dele” e o fizeram por meio de astúcia. Escapando da cadeia, Pedro Barqueiro foi acertar as contas com Flor, mas, mesmo com a situação sob controle, desiste, concluindo que o vaqueiro era o único homem que tinha encontrado naquela vida. A generosidade de Pedro Barqueiro, com que o conto termina “[…] contraria a situação do foragido intratável e sanguinário”. Esse conto recebeu críticas muito elogiosas de diversos nomes importantes da intelectualidade do Rio de Janeiro, e Carvalho relata:
E quanto a impressão que o conto de Arinos provocou nos leitores da Revista Brasileira, basta reproduzir a de Olavo Bilac em carta ao amigo de 28 de janeiro de 1895: ‘Já li Pedro Barqueiro três vezes. Pelas tripas de Apolo! É uma das cousas mais fortes e mais belas que se tem feito nesta terra!’ (Carvalho, 2008a, p, 10)
Apesar de todo o reconhecimento da qualidade da obra de Arinos, ele foi classificado pela crítica como autor regionalista num período em que esse estilo literário foi alvo de muitas críticas e desmerecimento. De acordo com Regina Célia dos Santos Alves, na época em que Afonso Arinos escrevia, o pensamento realista/naturalista dominava a cena literária. Para ela,
Olhar para o campo significava: estar em dia com as preocupações do presente, visto ser o Brasil, naquele momento, eminentemente rural; des(cobrir) o Brasil, no caso o sertão e o sertanejo, dando-lhes voz e lugar na literatura, onde, até então, pouquíssimo aparecia, ocupando, quando muito, os bastidores; apontar para as idiossincrasias de um país que procurava entrar no bonde da modernização e da urbanização, mas que essencialmente se constituía como rural; definir componentes de uma famigerada brasilidade. (Alves, 2015, p. 84)
Criava-se um impasse em que a literatura procurava se desvincular das características europeias, buscando nas tradições do Brasil sertanejo as condições para a construção nacional, mas esbarrava na concepção de que a cultura popular era primitiva e antiquada, incapaz de representar a modernidade que se desenhava. Essa era a concepção presente nas críticas literárias que consideravam a literatura regionalista limitada, estereotipada ou ultrapassada, mas que abriu o caminho para o modernismo, que, no entanto, deslegitimou o regionalismo.
André Tessaro Pelinser, no artigo Crítica literária: memórias e imagens do regionalismo literário brasileiro, evidencia
[…] de que maneira as aproximações à obra de arte e os julgamentos de valor produzidos veicularam imagens aceitas e apreendidas na memória coletiva, as quais se tornaram, não raras vezes, índices determinantes de leitura, solapando a legitimação do regionalismo. (Pelinser, 2012, p. 230)
Pelinser analisa que a crítica literária, ao avaliar obras regionalistas, seguia critérios de julgamento e níveis de excelência baseados na visão de literatura europeia, mas cobrava das obras literárias completa isenção com relação às influências do Velho Continente. Essas análises e julgamentos criaram imagens negativas sobre o regionalismo. De acordo com o autor,
A despeito de uma discussão estética detida na qualidade das diversas obras, os postulados absolutistas quanto a fatores que dizem pouco sobre o texto passam a fazer escola – e, mais grave, tornam a nomenclatura de uma tradição literária gradualmente sinônimo de literatura de má qualidade. (Pelinser, 2012, p. 236 – grifo no original)
Pelinser continua dizendo que, no entanto, o que para os críticos vale para aqueles denominados regionalistas, cujos conteúdos
perderiam o sentido sem a superficialidade exterior, sem a região propriamente dita, […] não ocorreria com a obra de um Machado de Assis desprovida do Rio de Janeiro… Esta, inclusive, não pertence à tradição regionalista por estar ambientada sob a égide da ‘civilização nivelador’, a qual, diga-se, Machado não cessava de criticar. Vê-se logo, portanto, com que olhos foi analisada essa parcela da Literatura Brasileira por intelectuais investidos de um poder simbólico capaz de marcar a ferro a chapa de cobre das nossas consciências. (Pelinser, 2012, pp. 236-237)
De acordo com ele,
as análises críticas têm poder para construir ou destruir os sentidos de uma obra, à medida que iluminam suas possibilidades de significação ou, por outro lado, focam sua atenção prioritariamente sobre defeitos, em detrimento das qualidades. (Pelinser, 2012, p. 231)
Seguindo essas reflexões, Pelinser afirma que a obra de Guimarães Rosa e a de Afonso Arinos não foram “pesadas na mesma balança” pelos críticos literários (Pelinser, 2012, p. 237), podendo explicar por que um se tornou um monstro sagrado de nossa literatura, enquanto o outro foi obliterado.
Isso fica bem claro quando Alfredo Bosi, em História concisa da literatura brasileira, de 1970, diz que Afonso Arinos “é o primeiro escritor regionalista de real importância”. Sobre ele diz: “Não se lhe pode negar brilho descritivo, não obstante a minudência pedante e não raro preciosa da linguagem” (Bosi, 1974, p. 234). Afirma ainda que
quanto à narração, os seus momentos altos são, naturalmente, aqueles em que predomina a simplicidade […] e assumindo-a em um nível estilístico médio, acima da mera transcrição folclórica, mas abaixo de uma intuição profunda da condição humana subjacente ao ‘tipo’ regional. (Bosi, 1974, p. 235)
Ao criar uma imagem positiva de Afonso Arinos e sua obra, não deixa, também ele, de cobrar do regionalismo uma maior universalidade. Essa intuição profunda da condição humana subjacente ao tipo regional colocada por Bosi teria sido alcançada por Rosa, diferenciando-o dos demais que se dedicavam a escrever sobre o sertão.
Se com relação ao estilo literário, a superposição da imagem de um outro regionalismo, o roseano, ofuscou a obra de Afonso Arinos, o mesmo podemos dizer sobre seu romance Os jagunços (Villa Rica, 1898), sobre a Guerra de Canudos, que foi o primeiro livro a tratar do assunto e que é quase desconhecido, publicado muitos anos antes de Os sertões (Ediouro, 1902) de Euclides da Cunha, que versa sobre o mesmo tema e é até hoje considerado uma obra fundamental.
O conflito no interior baiano entre os seguidores de Antônio Conselheiro e as tropas do governo republicano despertou o interesse de Arinos por duas razões principais: sua identificação com os sertanejos e sua desconfiança para com o governo republicano. Como redator do jornal monarquista O Comércio de São Paulo, ele passou a escrever matérias, depois folhetins que mais tarde foram transformados em um romance, publicado sob o pseudônimo de Olívio de Barros, denunciando o massacre que estava ocorrendo em Canudos e apresentando a reação dos sertanejos como heroica.
Afonso Arinos faz uma leitura completamente oposta à de Euclides da Cunha. Enquanto Euclides da Cunha foi enviado por seu jornal para fazer a cobertura da guerra e a vivenciou, Afonso Arinos a conheceu pelos artigos dos jornais e por fontes jornalísticas não reveladas e tomou partido dos sertanejos.
Galvão comenta que
durante a guerra, a imprensa, num de seus mais tristes momentos – infelizmente nem tão raros –, agitava a opinião pública divulgando a versão de que Canudos era o foco de uma conspiração destinada a restaurar o trono. Arinos várias vezes tomaria posição em seus editoriais para ‘O Comércio de São Paulo’, de que era diretor, inclusive desmentindo tais boatos; mas não foi ouvido. E foi a única pessoa a se manifestar em favor dos canudenses, o que não é pouco. (Galvão, 2005)
A opinião de Arinos sobre o papel exercido pela imprensa durante o conflito aparece em muitos editoriais e, em um artigo, ele afirma:
A alegação propalada por certos órgãos da imprensa de que o movimento armado da Bahia é especulação política, principalmente monárquica, é superficial e ridícula. A especulação pode criar aventureiros, mas não cria heróis, não fanatiza homens. (Franco, 1969, p. 644)
No romance Os jagunços, Arinos faz um retrato do sertanejo esquecido pelo poder público, abandonado à sua sorte, em uma paisagem hostil muito diferente das visões idílicas da terra prometida, moldado por suas tradições, com uma religiosidade permeada de crenças e superstições, vulnerável aos messianismos e fanatismos, realçando a força e a valentia do sertanejo, sem se deter sobre suas características raciais. A preocupação dele ao longo de todo o texto é buscar um caminho para a compreensão do conflito e apontar a falta de conhecimento pelas camadas governantes do Brasil profundo, real.
A aridez e dureza da terra e o incansável esforço para domá-la e tirar dela o sustento são usadas como justificativas para a exaltação dos sertanejos que superam as adversidades e dão significado às suas vidas. Um povo capaz de sobreviver naquelas condições é suficientemente forte e capaz de construir uma nação autenticamente brasileira e ocupar lugar de destaque entre as nações mundiais. A visão do sertanejo forte como elemento fundamental da identidade nacional precisa ser conhecida, papel que, para Arinos, cabe aos intelectuais, já que os governos não têm capacidade de enxergar.
Falando sobre o local onde foi erguida a cidade santa, Arinos descreve um sertão árido e duro e diz que “quem não for valente como eles não canta nem entoa, no meio desses sertões brasileiros, onde vivem milhões de homens e onde, apesar disso, apesar da ausência de autoridade e de força, há menos crimes do que numa só de nossas grandes cidades” (Arinos, 1985, p. 127). Mais adiante ele fala que os amigos do Governo queriam “prender ou matar o Conselheiro e destruir o seu povo” (Arinos, 1985, p. 174) e que
Cada dia que se passava, trazia uma novidade para recrudescer a excitação de Belo Monte. Quanto mais se acendia no peito dos jagunços o ódio àqueles que eram por eles considerados herejes, mais se acentuava neles o fanatismo pelo conselheiro.
E era natural. Dos graúdos das terras grandes, do Governo, que eles consideravam a personificação da força e da riqueza, não conheciam o mínimo benefício.
As únicas vezes que entraram em contato com o Governo, foi por meio das balas e das baionetas da polícia. Desamparados nos seus Sertões, eles sentiam de vez em quando a ação do Governo à passagem dos recrutadores, ou dos aliciadores de tropas. nas suas misérias, nunca lhes chegou lenitivo da parte do poder.
Se as cheias lhes arrebatavam, os tugúrios frágeis e a peste lhes destruía o gado, o Governo não vinha auxiliá-los a reerguer a palhoça, nem a substituir-lhes a criação perdida. Só um poder lhes aparecia propício, mas este não era do mundo. A ele faziam votos ingênuos e eram muita vez satisfeitos, a ele exalçavam preces e dele recebiam conforto.
Quanto aos poderes da Terra, quanto ao Governo, este estava muito longe para se lembrar deles. Dele, pois, nunca tiveram motivo de gratidão. Mas agora, esse poder se aproximava para destruir os templos que eles ergueram no meio do deserto; para arrebatar-lhes os filhos e tomar-lhes aquele que só e pobre neste mundo, fez de sua miséria força para ajudá-los e penou com eles pelos desertos, ensinando-lhes a esperar tudo do céu, já que da Terra nada tinham. (Arinos, 1985, pp. 175-176)
Após relatar a derrota da terceira das quatro expedições do governo enviadas a Canudos, Arinos introduz comentários sobre a repercussão da Guerra, e da estrepitosa “vitória alcançada por Belo Monte contra a grande força do Governo” (Arinos, 1985, p. 205). Fala da fama de Conselheiro e do espanto que causavam os acontecimentos no sertão.
Que havia por ali? Que gênio terrível de guerrilheiro sombrio, ou tático cheio de pavorosos recursos e de espantosas surpresas, teria adestrado os guerreiros de Belo Monte na defesa ou na destruição?
Não! Não eram simples sertanejos aqueles soldados invencíveis. Não era a palavra de um humilde missionário das catingas que guiava aos combates os filhos de Belo Monte. Não eram armas toscas e anacrônicas as que, depois de a repelirem, lançaram o terror numa tão brilhante expedição quanto a do coronel Moreira César.
Não! Havia por lá, certo, algum poder misterioso, algum experimentado cabo-de-guerra, que escolheu o seio do deserto para origem e centro de suas operações militares, que visavam à dominação do Brasil inteiro. Havia lá algum plano tenebroso e inacessível aos profanos, plano superiormente combinado e rigorosamente executado, talvez elaborado por um desconhecido moltke.
Conselheiro era simplesmente um disfarce, uma máscara, para cobrir os altos intuitos de um príncipe audaz, ou de um revolucionário terrível, contra o qual o exército inteiro seria bem frágil obstáculo.
[…] Eis o que a imaginação do Brasil fantasiou depois da última e retumbante Vitória dos jagunços. (Arinos, 1985, pp. 205-206)
Sobre o efeito da vitória dentro de Belo Monte, Arinos fala dos restos de guerra recolhidos pelos jagunços, dos canhões, granadas e munições e da reação a um incidente provocado por um rapaz que explodiu uma granada, que teria dilacerado e matado muitos. A reação tipicamente religiosa diz muito sobre como a guerra foi encarada pelos jagunços.
Depois disto, um terror supersticioso pairou sobre os canhões, de junto dos quais todos se afastaram com desconfiança. Canhões, granadas, todas as munições de artilharia foram julgadas objetos malditos, onde estava sempre presente o demônio.
Ninguém mais tocou os canhões. Conselheiro proibiu expressamente que se utilizassem deles, porque eram artes do Malígno. Aquela explosão era a prova de que o espírito maligno, oculto arteiramente na escura granada, queria introduzir-se traiçoeiramente na cidade santa para matar os defensores do Bom Jesus. (Arinos, 1985, pp. 206-207)
Por outro caminho, Euclides da Cunha, assumindo o discurso cientificista do século XIX e as teorias raciais, considerava que a força dos nordestinos advinha da necessidade de domar a caatinga, e que o isolamento geográfico em que viviam os sertanejos, os alheava do movimento da história e os condenava ao desaparecimento. Assim eles deveriam ser assimilados à civilização, como forma de afirmar a nacionalidade. Se, para Euclides da Cunha, Canudos representou a incursão da civilização em um território bárbaro que deveria ser então modernizado, mesmo que a duras penas, para Arinos, Canudos apresentou o sertão à nação e a possibilidade de uma nacionalidade forte partindo dele.
Apesar da convicção das teorias racistas de que a miscigenação degenera uma raça, o contato de Euclides da Cunha com a guerra de Canudos o fez flexibilizar, admitindo ser o sertanejo um forte, mas fadado ao desaparecimento. Luciana Murari diz que
Para Euclides da Cunha, se por um lado o isolamento, geográfico em sua base, tornou a etnia estável e sólida, por outro lado a condenou inexoravelmente, porque a manteve alheada em relação ao movimento da história. A dependência em relação à natureza é o corolário deste isolamento temporal. Retrógrada, não degenerada, essa raça estava, contudo, na visão do escritor, condenada a perecer frente à expansão da civilização que suprimia as tradições evanescentes e imprimia seu ritmo vertiginoso de transformações. Para o escritor, a estabilização completa da etnia sertaneja dependeria de condições de equilíbrio que eram totalmente ausentes na sociedade do seu tempo, em que o ritmo das transformações sociais e o avanço da civilização viriam necessariamente atropelar as etnias e povos retardatários. A guerra de Canudos se tornava, desse ponto de vista, a primeira incursão desses representantes de civilização – ainda que barbarizados pela guerra – em um território pertencente ao passado, obsoleto num mundo modernizado que deveria necessariamente tomar seu lugar. (Murari, 2002, p. 145)
Apesar de testemunha ocular do conflito, Galvão diz que a obra de Euclides da Cunha se beneficia dos aspectos literários e do conhecimento do sertão da obra de Afonso Arinos. Que a influência de Arinos na obra de Cunha é perceptível, mas a influência contrária não, apesar dos dois relatarem os mesmos acontecimentos. Galvão afirma:
Mas basta ler os dois livros para verificar o quanto Euclydes seguiu Arinos, enxertando episódios que ele mesmo não escrevera, aproveitando a vasta convivência do confrade com sertão e sertanejos, bem como a distribuição da matéria. A glória de ‘Os Sertões’ e a autoridade que adquiriu eclipsaram ‘Os Jagunços’, relegando ao esquecimento o quanto o livro de Euclydes lhe deve, ao afeiçoar literariamente a matéria bruta. (Galvão, 2005)
Gaburo (2009, p. 135) encontra uma passagem no livro de Arinos que sugere a existência de uma fonte direta, sem mais pistas sobre a informação recebida, e essa passagem consta também em Euclides da Cunha. Nesse caso, os dois podem ter bebido na mesma fonte? Ou a fonte teria sido alguma reportagem de Cunha?
A visão de Arinos é oposta à de Cunha. Para ele, o sertanejo era o autêntico brasileiro, que precisaria ter acesso a bens e serviços públicos, receber a atenção dos governos para sair da miséria e barbárie em que vivia, mas cuja cultura e tradição deveria ser vista como a verdadeiramente nacional e a promessa de um Brasil forte e respeitado. Ele defendia que o sertanejo deveria ser inserido no projeto nacional e não combatido. Afirmava que o governo republicano se mostrava incapaz de entender o País e que havia se deixado levar por boatos, sem empreender uma investigação do fenômeno. Que atacar os fanáticos só serviu para atiçar o fanatismo e criar uma força de resistência inexplicável.
A forma pela qual Arinos retrata o conflito diz muito sobre as concepções pelas quais lutava. O conflito é apresentado como uma manifestação popular de revolta contra a invisibilidade e o desamparo a que estavam relegadas as populações do interior do Brasil, absolutamente desconhecidas pelos habitantes das cidades e pelo governo. Gaburo salienta que Arinos compreendia “o conflito numa lógica muito mais profunda do que a mera descrição da guerra em si” e usou Canudos para “discutir a nacionalidade e compreender o verdadeiro caráter do Brasil” (2009, p. 139).
Arinos reconhece o papel de Antônio Conselheiro como líder messiânico, mas entende que só podemos entender o fenômeno à luz dos anseios coletivos, “[…] admitir-se que a simples ação de um indivíduo possa produzir o fanatismo de um povo é ser cego, é não conhecer coisa alguma de História ou de sociologia” (Franco, 1969, p. 644 – nota 97). Nesse sentido, Gaburo afirma que, para Arinos,
Considerando o fenômeno num ponto-de-vista elevado, prova-se, diante da história do homem, em todos os tempos, que um indivíduo, cuja ação é intensa e larga na vida de um povo, não representa mais que a síntese do espírito coletivo; seu caráter forma-se dos elementos que existem no conjunto, e sua energia representa, em grau de maior intensidade, as energias individuais do grupo sujeito à sua influência. Sem essa identidade de elementos, sem esta semelhança de qualidades, não se explica a ação do indivíduo sobre as massas. (Franco, 1969, p. 644)
Sintetizando as ideias que serviam de base para seu projeto nacional, e que o conflito confirmava seu acerto, Arinos escreve:
Até aqui, só eram brasileiros os habitantes das grandes cidades cosmopolitas do litoral; até aqui, toda a atenção dos governos e grande parte dos recursos dos cofres públicos eram empregados na imigração ou no tolo intuito de querer arremedar instituições ou costumes exóticos. O Brasil central era ignorado; se nos sertões existe uma população, dela nada conhece, dela não cura o Governo; e eis que ela surge, numa estranha e fanática manifestação de energia, afirmando sua existência e lavrando com o sangue um veementíssimo protesto contra o desprezo ou o olvido a que fora renegada. Eis um elemento com que não contaram os arquitetadores de nossas leis e de nossa organização e que surdiu agora avocando seu direito à vida.
E essa força, que assim apareceu, há de ser incorporada à nossa nacionalidade e há de entrar nesta como perpétua afirmação da mesma nacionalidade. Ela há de, assimilada pela civilização, assegurar nossa independência, impondo-nos ao respeito das nações estrangeiras. (Arinos, 1968, p. 645)
A cultura popular, com suas tradições, lendas e folclore, permeou toda a produção de Arinos, assim como sua ousadia em defender suas ideias e a convicção de que os intelectuais brasileiros precisavam tomar contato e assumir a defesa desse Brasil sertanejo como fonte da verdadeira, forte e original nacionalidade brasileira.
A militância de Arinos pela cultura popular, ao mesmo tempo em que encantava e convencia, causava espanto na alta sociedade à qual ele normalmente se dirigia. Carvalho diz que
Enquanto o Rio de Janeiro estava saturado pela moda das conferências, iniciada aliás por Bilac, seria a vez de Arinos levá-la em 1915 a São Paulo, que já se destacava pela indústria e pelo aumento de sua população. E a vida cultural deveria acompanhar esse surto de desenvolvimento, ainda que copiando os modismos da Capital Federal: a Sociedade de Cultura Artística, fundada em 1912, convidava ilustres escritores para recitais e conferências, como Arinos para a série intitulada ‘Lendas e tradições brasileiras’, seis falas que terminaram com apresentações no Teatro Municipal. E essa foi sua última grande atuação, já que faleceria repentinamente no ano seguinte no exterior. (Carvalho, 2008a, p. 208)
Caio Csermak, sobre as apresentações de peças da cultura popular levadas por Arinos ao Teatro Municipal de São Paulo anos antes do movimento modernista iniciar sua trajetória no mesmo sentido, diz que “a montagem da peça Reisadas, de Affonso Arinos, levou ao palco do Municipal o compositor e cantor Catulo da Paixão Cearense e o bumba-meu-boi” (Csermak, 2022, p. 66).
Carvalho atribui a duas razões o entusiasmo despertado pelas conferências de Arinos numa época de guerra: “os brios nacionalistas andavam acirrados, juntamente com o prestígio de Arinos” (Carvalho, 2008a, p. 209). Segundo ele,
Na platéia, encontrava-se um jovem de 22 anos, sócio fundador da Sociedade de Cultura Artística, que provavelmente se impressionou com o mundo descortinado por Arinos. Embora, ao que se saiba, em nenhum ponto de sua obra Mário de Andrade se tenha manifestado sobre essas conferências de Arinos, elas podem ser apontadas como o início mais plausível do seu intenso trabalho no estudo e divulgação da cultura brasileira. (Carvalho, 2008a, p. 209)
Essas conferências realizadas no Teatro Municipal de São Paulo o foram “sob a égide da Sociedade de Cultura Artística, que contava entre seus sócios fundadores o próprio Mário de Andrade” (Galvão, 2005). Segundo Galvão, Mário de Andrade guardou o programa dessas conferências “em seu arquivo no Instituto de Estudos Brasileiros da USP, como fazia com todos os espetáculos a que assistia” (Galvão, 2005).
A repercussão dessas conferências pode ser medida pelo comentário no livro que Tristão de Athayde lhe dedicou, publicado em 1922, ano da Semana de Arte Moderna, assim se manifestando a respeito das conferências “Lendas e tradições brasileiras”:
É preciso tê-las ouvido, nesse ambiente peculiar de S. Paulo, onde palpita a grande energia do Brasil de amanhã ligada à seiva do Brasil de ontem, para compreender o alcance e a repercussão dessas formosas palavras do coração. (Athayde, 1922, p. 14, apud Carvalho, 2008a, p. 209)
Arinos, na primeira das 6 conferências pronunciadas, inicia explicando os significados de lendas, mitos, folclore, etc. Antes de começar a analisar algumas dessas tradições, suas origens e significados, ele diz:
Para tratar, pois, do assumpto desta conferência, é preciso um curso que talvez não estejaes dispostos a seguir e para o qual certamente eu não seria o mais competente. Destarte, venho apenas chamar a vossa attenção para a existência desse opulento tesouro esquecido e não farei mais do que indicar o vieiro.
Explorae-o, colhei a mancheias, que tocareis na fonte verdadeira da vida da nossa raça e ella repetirá comvosco o milagre de Fausto. Poetas, inspirae-vos alli, que sereis para o Vosso povo, verdadeiros <vates>, isto é, profetas! Compositores, buscae a melodia popular e ella vos dará, com a originalidade e a força, gloria e fama immortaes! Donzellas, não desprezeis o mágico instrumento em que a alma sentida da nossa raça suspirou as suas primeiras emoções; elle vos fará mais prendadas, vos dará mais encantos, sujeitará mais facilmente ao vosso gesto o eleito do vosso coração. (Arinos, 2017, p. 5)
E, ao fim dessa primeira conferência, ele diz:
Ahi tendes, ó vós que com paciência e caridade me ouvistes, ahi tendes historias, mythos, lendas, recordações. Nestes dias de eclipse da grande civilização do século XX, ficou provado que os maiores, os mais bellos, os mais ricos monumentos da superfície da terra se arrasam e pulverisam como as construcções das crianças em folga na areia dos vossos jardins. Só uma coisa sobrenada no cataclysmo; só uma arte desafia os iconoclastas, só um thesouro não teme o saque: — o fundo de tradições, de ideal, de poesia, que são a alma de uma raça e o documento único de sua identidade entre os seus companheiros de planeta.
A desventura alheia nos aconchega uns aos outros. Aproveitemos desse momento para nos conhecermos.
Durante um século estivemos a olhar para fora, para o estrangeiro: olhemos agora para nós mesmos.
Quantas vezes a varia Fortuna esconde junto de nós aquillo que com renitente afan buscamos ao longe! (Arinos, 1917, pp. 30-31)
As conferências proferidas e publicadas seguiram a seguinte ordem: “Lendas e tradições brasileiras” (fevereiro); “As amazonas e o seu rio; as Iaras” (fevereiro); “O São Francisco e suas lendas; a Serra das Esmeraldas; As minas de prata; O caboclo d’água” (março); “A capela da montanha; Algumas igrejas do Brasil e suas tradições” (abril); “O culto de Maria nos costumes, na tradição e na história do Brasil” (julho); e “Santos populares; Superstições; Festas e danças” (dezembro). Ele encerrou sua fala nessa última conferência preparando o público para o espetáculo que se seguiria. Assim ele explica:
Não vos convoquei para me ouvirdes, mas para attenderdes á voz tão simples e sincera do povo nas singelas quadrinhas que moças gentilíssimas e rapazes da nossa mais fina sociedade vos cantarão dentro em pouco. (Arinos, 1917, p. 173)
E ele se empolga ao preparar o terreno para o que vai acontecer a seguir:
Eu sou o sineiro que subo à torre para chamar-vos ao culto da pátria. Não é a minha voz que vos fala e vos concita; é a voz mysteriosa de todas as coisas que vos cercam; é a grande voz do trovão na montanha, é o marulho das vagas, é o sussuro das mattas, é o canto dos passarinhos; é o som, mas é também o silencio, silencio das nossas solidões; é a côr, mas é também o negrume, o negrume da noite nos nossos escampados; é tudo quanto canta e chora e ruge e ameaça; tudo quanto avisa e aconselha; tudo quanto vos fala enternecidamente; tudo quanto, sem vos falar, vos lembra e vos recorda; é a saudade do passado, é a esperança do futuro; é a visão da casa onde nascestes, é a evocação da pessoa que amastes, é a sombra de quem choraes, é o perfil de quem esperaes; é tudo quanto vibra e estremece e sensibilisa e persuade; é a palavra alada que vôa e sonorisa os espaços, é a grande canção dos sinos a conclamar-vos na sua potente e maviosa garganta de bronze; vinde! vinde! vinde! (Arinos, 1917, p. 173)
E encerra colocando o verdadeiro objetivo de todo aquele ciclo de conferências. Sua militância aparece de forma vibrante, como a imagem que seus contemporâneos transmitem sobre ele:
E viestes e aqui estaes para ouvirdes o que vossos avós já ouviram afim de que o possaes transmittir a vossos filhos, formando assim o êlo da cadeia chamada a tradição de um paiz. E’ ella que faz dos habitadores de uma região um povo, dá a este povo uma alma, uma individualidade própria entre os outros povos da terra. E’ ella quem dá aos povos as supremas energias para as lutas e se não é ella quem arma os soldados, é ella quem lhes incutejesse extraordinário sentimento sem o qual são impossíveis as verdadeiras victorias — o amor da pátria! (Arinos, 1917, pp. 174-175)
O livro traz ainda o programa das apresentações que ele levou para o Teatro Municipal de São Paulo. Carvalho diz que
O mais impressionante estava reservado para o final. Após a última conferência de Arinos, houve a apresentação de ‘festas tradicionais brasileiras’, em pleno palco do Teatro Municipal, inaugurado há pouco, em 1911, aos moldes dos grandes teatros europeus, para que a elite paulistana pudesse desfrutar dos espetáculos de ópera e de balé. O Programa, que viria como anexo da edição de Lendas e tradições brasileiras de 1917, também pode ser visto como o primeiro exemplar da série de programas musicais conservados por Mário de Andrade, o que indica a sua presença no espetáculo. (Carvalho, 2008a, p. 211)
Analisando o papel das culturas populares no modernismo paulista, Csermak fala de outra obra de Arinos que teria sido representada postumamente no Teatro Municipal de São Paulo:
É na montagem de O contratador de diamantes — obra póstuma encenada em 1919 como uma homenagem da elite paulistana a Affonso Arinos, falecido em 1916 — que um grupo de congada se apresenta no palco do Theatro Municipal. Os congadeiros vinham de Atibaia, Bragança e Juqueri (Gonçalves, 2012) e davam à peça uma característica nativista que, embora inusitada para o palco do principal teatro da cidade, era já recorrente na obra e nos interesses de Affonso Arinos. (Csermak, 2022, pp. 66-67)
Sobre esse espetáculo, Sevcenko diz que
a mescla entre elementos da elite e a presença da congada criou um ‘vínculo simbólico profundo entre distinção social, sofisticação, passado colonial e raiz cultural popular’, fazendo com que o espetáculo operasse ‘como cristalização e catalisador de uma fermentação nativista que adquiria densidade crescente em direção aos anos 1920’ (pp. 244-247). No entanto, as culturas populares aí aparecem como um elemento exótico para o deleite e a afirmação nacional de uma elite paulistana. (Sevcenko, 1992, apud Csermak, 2022, p. 67)
Refletindo sobre a repercussão desse espetáculo, Sevcenko (1998) afirma que “Arinos se constituiria no vértice do movimento de ‘redescoberta’ do Brasil ‘popular’, ‘folclórico’ e ‘colonial’”, e comenta sobre um outro evento que Arinos promoveu, dessa vez como um baile privado: “A sua obsessão ‘nativista’ e ‘primitiva’ causava constrangimento geral aos seus convivas que, no entanto, dada a posição social de Arinos, engoliam o orgulho e mal toleravam a excentricidade do visitante ilustre” (Sevcenko, 1998, p. 238). Ele traz uma fala do Dr. Miguel Couto sobre esse mal-estar gerado no baile de Arinos (colhido na Antologia da Academia Brasileira de Letras, de Humberto de Campos, pp 307-308). De acordo com ele, Arinos
[…] ofereceu no seu palacete à alta sociedade Paulistana, baile da maior suntuosidade e requintada opulência [durante o qual] entrou uma turma de legítimos e retintos caboclos, de chapéus na cabeça e sem colarinhos, para dançar o verdadeiro, o clássico, o incorrupto cateretê, e ao se retirarem deste quadro […] ele próprio, com aquela sua linha finamente aristocrática, os conduziu até o topo da escada, apertando a mão de cada um. (Campos, apud Sevcenko, 1998, p. 239)
A presença dessas pessoas contrastava com o luxo reinante, causando desconforto, mas Arinos não interpretava assim. Essa teria sido a última atuação de Arinos em prol da cultura popular. Após sua morte, em 1919, entretanto, sua peça O contratador de diamantes foi encenada com toda a pompa, em sua homenagem, no Teatro Municipal de São Paulo, cedido pelo prefeito, tendo como atores e patrocinadores membros da mais alta sociedade paulista, acompanhada por orquestra e assistido por altas autoridades do governo federal e que, a certa altura, trazia um autêntico congado, com intérpretes, dançadores e violeiros “pretos de verdade”. Após esse evento, Sevcenko (1998) diz que “Afonso Arinos foi alçado à posição de herói intelectual dos novos tempos” (p. 242) e que a Liga Nacionalista “decide financiar uma temporada a preços populares, a fim de dar maior divulgação possível a ‘essa nova bandeira que surgiu nos campos de Piratininga” (pp. 242-243).
A imagem que seus contemporâneos constroem dele e de sua obra é quase sempre laudativa e revela o impacto da sua presença marcante. O discurso de recepção a ele na Academia Brasileira de Letras (ABL), proferido por Olavo Bilac e, depois, especialmente nos anos de 1915 e 1916, quando liderou uma campanha cívica e nacionalista em prol da defesa nacional e do serviço militar obrigatório, conhecida como “cruzada nacionalista”, revela a forte influência exercida por Arinos sobre sua concepção de nacionalismo.
Olavo Bilac encerra seu discurso de recepção a Afonso Arinos na ABL fazendo referência a “uma página encantadora, em que glorificas um velho buriti”, referindo-se ao poema “Buriti perdido” e cita seu trecho final:
Se algum dia a civilização ganhar essa paragem longínqua, talvez uma grande cidade se levante na campina extensa que te serve de soco, velho Buriti Perdido. Então, como os hoplitas atenienses cativos em Siracusa, que conquistaram a liberdade enternecendo os duros senhores à narração das próprias desgraças nos versos sublimes de Eurípedes, tu impedirás, poeta dos desertos, a própria destruição, comprando teu direito à vida com a poesia selvagem e dolorida que tu sabes tão bem comunicar.
Então, talvez, uma alma amante das lendas primevas, uma alma que tenhas movido ao amor e à poesia, não permitindo a tua destruição, fará com que figures em larga praça, como um monumento às gerações extintas, uma página sempre aberta de um poema que não foi escrito, mas que referve na mente de cada um dos filhos desta terra. (Bilac, 1903)
E conclui, em 1903, com a seguinte interpretação:
Sim! a civilização há de ganhar a paragem longínqua em que vistes, solitário e soberano, esse buriti selvagem, mas não será levada por senhores duros, cujo coração careça de ser enternecido pelas queixas da terra conquistada. O vosso velho buriti viverá, não tolerado, e sim respeitado e amado; mas viverá menos do que o gênio da nossa nacionalidade, que, como ele, há de assistir a todo o ciclo do drama da conquista, dominando-o e dirigindo-o.
Esta esperança – e, mais do que esperança, certeza – da glória e da grandeza da nossa nacionalidade, é o sentimento que a todos nós anima, nesta casa que vindes honrar. Aqui as almas se congregam para prezar o passado e para esperar com confiança o futuro. (Bilac, 1903)
Já em 2005, Galvão encerra seu artigo no Estado de S. Paulo dizendo: “É difícil aquilatar hoje o significado que teve o poema em prosa de Arinos, ‘Buriti Perdido’, para gerações de mineiros que o sabiam de cor e o declamavam ao menor pretexto”. E continua mostrando como, na atualidade, sobrevivem “ecos desse fervor […] em Brasília” (2005), que, no entanto, poucos que ali vivem conseguem identificar como uma homenagem a esse autor. Ela explica como um buriti foi erigido em símbolo da nova capital federal.
Trabalhando em sua construção, o engenheiro Israel Pinheiro, assessor do presidente Juscelino Kubitschek, escolheu a palmeira como símbolo da cidade, em 1959. Um espécime foi plantado defronte à futura sede do governo do Distrito Federal, o Palácio do Buriti, erigido na praça do Buriti. Consagrou-se placa alusiva ao poema de Arinos, já vaticinando nos últimos versos que um dia alguém ‘fará com que figures em larga praça como um monumento…’.
Guimarães Rosa daria continuidade à transfiguração do buriti em emblema do sertão, encarnação do gênio do lugar e repositório do espírito épico, como se integrasse um brasão. Como Arinos, alça-o a dimensões míticas. Essas ora são masculinas, em aura fálica de fecundador e ícone de virilidade, como em ‘Buriti’, de ‘Corpo de Baile’. Ora são femininas, enquanto nutriz, mãe, amada noiva, como em ‘Grande Sertão: Veredas’.
Como se vê, não é sobre insignificâncias de nossas letras que paira a sombra de Afonso Arinos. (Galvão, 2005)
São muitos os estudos que discutem a importância da literatura de Afonso Arinos sob diversos prismas. Todos enfatizam o pioneirismo, a qualidade estética, o profundo conhecimento que ele tinha do sertão e a influência que exerceu sobre literatos que fizeram história no País, como Olavo Bilac, Mário de Andrade, Euclides da Cunha e Guimarães Rosa, mas, apesar de tudo isso, ele continua conhecido apenas em pequenos nichos altamente especializados da cultura letrada brasileira.
REFERÊNCIAS
ALVES, Regina Célia dos Santos. Dois Modos de ler o sertão: Afonso Arinos e Valdomiro Silveira. Revista Topus, [S.l.], v. 1, n. 1, 2015. PDF. Disponível em: http://www.revistatopus.com.br/en/enviados/2016549369.pdf. Acesso em: 11 mar. 2019,
ARINOS, Affonso. Pelo sertão. Rio de Janeiro: Garnier, s.d. Disponível em: https://bibdig.biblioteca.unesp.br/items/c812e52e-6b56-4ff9-98ca-b583700486be. Acesso em: 10 fev. 2019.
ARINOS, Affonso. Lendas e tradições brasileiras. São Paulo: Typographia Levi, 1917. Disponível em: https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm/6834. Acesso em: 15 out. 2014.
ARINOS, Affonso. Os jagunços. Rio de Janeiro: Philobiblion/Instituto Nacional do Livro/Fundação Nacional Pró-Memória, 1985.
BILAC, Olavo. Discurso de recepção de Afonso Arinos na Academia Brasileira de Letras. 1903. Disponível em: https://www.academia.org.br/academicos/afonso-arinos/discurso-de-recepcao. Acesso em: 10 mar. 2019.
BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. 33ª ed. São Paulo, Cultrix, 1994.
CARVALHO, Ricardo Souza de. Através do Brasil com Afonso Arinos. Revista do IEB, [S.l.], n. 46, pp. 201-216, fev. 2008. PDF. Disponível em: file:///C:/Users/helenulhoa/Downloads/34605-Texto%20do%20artigo-40557-1-10-20120722.pdf. Acesso em: 11 fev. 2019.
CARVALHO, Ricardo Souza de. O sertão de Minas apeia na Capital Federal: os contos de Afonso Arinos na Revista Brasileira (1895-1897). I SIMELP, 2008, São Paulo. I SIMELP, 2008a. PDF. Disponível em: https://dlcv.fflch.usp.br/sites/dlcv.fflch.usp.br/files/10_3.pdf. Acesso em: 8 ago. 2024.
CSERMAK, Caio. Só me interessa quem não sou eu: culturas populares e Modernismo Paulista. Revista do Centro de Pesquisa de Formação, [S.l.], n. 14, jul. 2022. Disponível em: https://www.sescsp.org.br/editorial/so-me-interessa-quem-nao-sou-eu-culturas-populares-e-modernismo-paulista/. Acesso em: 31 maio 2025.
FRANCO, Afonso Arinos de Melo. O sertanejo Afonso Arinos. In: Obra Completa. Org. Afrânio Coutinho. Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Livro, 1968.
FRANCO, Afonso Arinos de Mello. Obra Completa. Org. Afrânio Coutinho. Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Livro, 1968.
GABURO, Vanderson Roderto Pedruzzi. A Literatura Regionalista no Brasil no Final do Século XIX: A Trajetória e a Influência de Afonso Arinos. Entre Letras. Revista da Academia de Letras do Noroeste de Minas, [S.l.], ano 6, n. 6, 2024. Disponível em https://www.academia.edu/126256943/Revista_Entre_Letras. Acesso em: 13 abr. 2025.
GABURO, Vanderson Roderto Pedruzzi. O sertão vai virar gente: sertão e identidade nacional em Afonso Arinos. Programa de Pós-Graduação em História Social das Relações Políticas – UFES. Vitória, 2009. Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=163519. Acesso em: 8 ago. 2024.
GALVÃO, Walnice Nogueira. A pena do jagunço. Folha de S. Paulo, São Paulo, 25 set, 2005. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs2509200509.htm. Acesso em: 25 abr. 2025.
LAZZARI, Alexandre. Longe do sertão: literatura, política e nacionalismo em Afonso Arinos. In: XIII Encontro de História Anpuh-Rio – Identidades, 2008, Seropédica-RJ. Anais complementares. Disponível em: https://ufrrj.academia.edu/Departments/Departamento_de_Hist%C3%B3ria_Campus_Nova_Igua%C3%A7u/Documents. Acesso em: 12 abr. 2018.
MURARI, Luciana. Tudo mais é paisagem: representações da natureza na cultura brasileira. Tese de doutorado – USP, 2002. PDF. Disponível em: www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8138/tde-24042007…/teselucianamurari.pdf. Acesso em: 11 set. 2018.
PELINSER, André Tessaro. Crítica literária: memórias e imagens do regionalismo literário brasileiro. Crítica Cultural (Critic), Palhoça, SC, v. 7, n. 2, pp. 230-241, jul./dez. 2012. Disponível em: https://www.academia.edu/2221084/Cr%C3%ADtica_liter%C3%A1ria_mem%C3%B3rias_e_imagens_do_regionalismo_liter%C3%A1rio_brasileiro. Acesso em: 26 maio 2025.
SEVCENKO, Nicolau. Orfeu estático na metrópole. São Paulo sociedade e cultura nos frementes anos 20. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.
Helen Ulhôa Pimentel é Doutora em História pela UnB, com bolsa sanduíche na Universidade de Coimbra. Professora aposentada da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), onde atuou na graduação e no Programa de Pós-graduação em História. Pesquisadora do Grupo de Pesquisa Gênero e Violência (CNPq); foi presidente da Academia de Letras do Noroeste de Minas Gerais. Produtora cultural.

